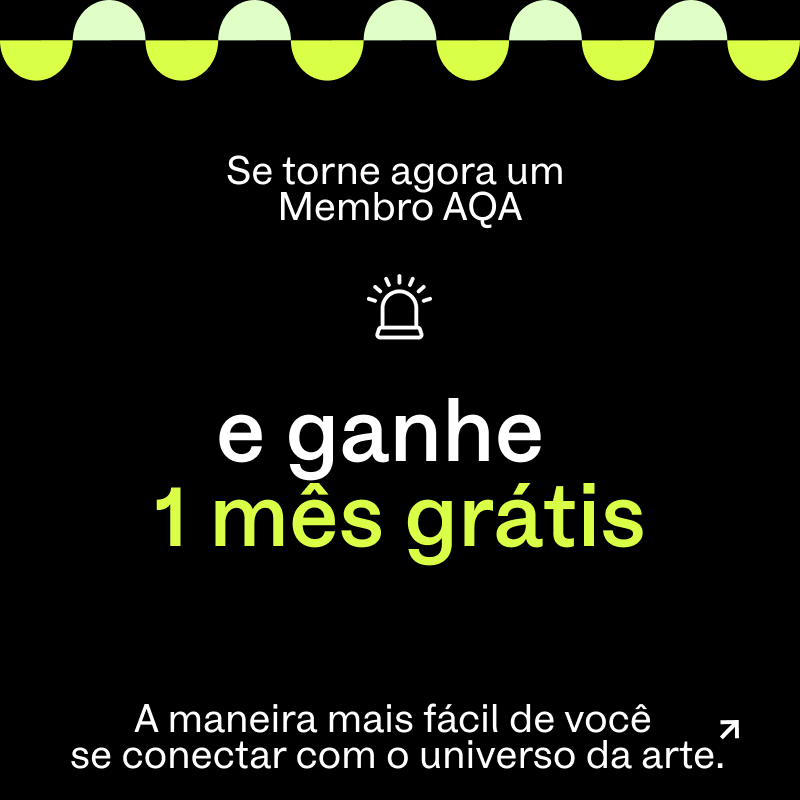Imagina essa turma: Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Guerreiro Ramos, Abdias Nascimento, Rubem Valentim, Itamar Assumpção, Mestre Didi, Gilberto Gil, Milton Nascimento, entre muitos outros. Ao visitar a exposição MestreDidi – os iniciados no mistério não morrem, com curadoria de Igor Simões, em Inhotim, é possível perceber que essas pessoas trocavam cartas, ideias, sonhos. E logo compreender que as atuais conquistas da arte afro-brasileira não representam uma transformação recente, mas o resultado de um trabalho intelectual antigo, intenso, profundo e coletivo. “Estas pessoas estavam, de fato, pensando um projeto de Brasil. E, por vivermos num país estruturalmente racista, eu costumo dizer que eles não foram apagados e nem silenciados. O que houve foi uma escuta seletiva”, destaca Simões.
A existência negra de uma maneira geral acontece na ordem da coletividade. Não à toa, Abdias Nascimento – pensador central da programação de Inhotim dos últimos dois anos – criou um conceito baseado na ideia de quilombismo. E o que que fica explícito, na mostra, é que houve uma espécie de quilombismo dentro da arte e intelectualidade brasileira, sendo o próprio Abdias e Mestre Didi, cujos legados multidisciplinares se conectam em discussões amplas que cruzam raça, religião, tradição, figuras centrais desse movimento.
A ideia a exposição é, portanto, conectar os diversos pensamentos e atuações do Metre Didi: como intelectual, escritor, artista e tradutor – ele foi uma das primeiras pessoas que traduziu o yorubá para o português e, por isso, o texto de parede da exposição que reúne 30 obras do artista, além de uma preciosa documentação, foi feito em três versões: português, inglês e yorubá.
Desvendando qualquer mistério ou dúvida
O título da mostra é um trecho de uma cantiga entoada durante as cerimônias fúnebres de um Ojé, sacerdote da tradição Egungun (termo das religiões de matriz africana que designa os espíritos de pessoas mortas importantes, que retornam à terra). “Esse título foi uma síntese para olhar para um determinado mistério que a figura do Mestre Didi ocupa e ocupou dentro da cultura brasileira. É um processo de retirar essa escuta seletiva e de posicionar o Mestre como esse artista moderno que não cabe apenas numa definição de arte brasileira, mas que pode ser pensado numa dimensão afro-diaspórica, portanto, se conectando com toda experiência cultural que vem do Atlântico. Não se trata, portanto, de uma exposição sobre o mistério do Mestre, mas de uma ação para desfazer definitivamente qualquer mistério ou dúvida sobre o lugar desse artista na história da arte brasileira”, explica o curador.
Simões ressalta que, apesar de Mestre Didi ser reconhecido como o sacerdote do fundador do terreiro Ilê Asipá, em Salvador, ele não criava objetos de culto que foram deslocados para o campo da arte, mas se apropriava de materiais e símbolos comuns aos terreiros e os reorganizava para a criação de esculturas tridimensionais pensadas para o campo artístico.
Esses trabalhos também não podem ser definidos como “arte sacra”, muito menos como popular ou naif – como seu trabalho foi erroneamente classificado a partir dos anos 1980. Ele participou, por exemplo, de uma exposição muito importante para as discussões contemporâneas, curada por Jean-Hubert Martin, chamada Magiciens de la Terre, que abriu no Centre Georges Pompidou , em 1989. A ideia de Martin era neutralizar as práticas etnocêntricas no mundo da arte contemporânea, corrigindo uma estatística preocupante: “cem por cento das exposições ignorando 80 por cento da terra”. A ideia era reconhecer cada indivíduo e subverter a ilusão de superioridade eurocêntrica no campo da representação artística e a visão de mundo herdada da era colonial. Mas depois o próprio curador reconheceu que seu método tinha falhas.
“Essa mostra reunia uma série de artistas que de alguma maneira se relacionavam com uma experiência transcendental no campo da arte. Entre eles, estava Mestre Didi cujos trabalhos foram apresentados como obra de arte, mas nessa chave da ingenuidade e do popular”, explica Simões. Mas Mestre Didi estava bem longe de ser ingênuo, era um escultor profundamente habilidoso e consciente, em conexão com o legado afro-diaspórico de Salvador.
“A arte branca brasileira se construiu a partir de uma série de categorias herdadas do modernismo que produziram um contexto profundamente hierarquizado – sempre diminuindo a produção não branca. Foi somente a partir da década de 1990, com o avanço dos debates coloniais no campo da arte brasileira, que esses objetos foram migrando para um outro contexto, para uma outra moldura de compreensão”, completa Simões.

Entre o céu e a terra
O espectador é recebido por um imponente pássaro – uma figura alada que finca os pés no chão – que parece ser seguido pelas outras esculturas-pássaro, numa disposição que lembram as formas feitas por esses animas durante as migrações pelo planeta. No teto da galeria, uma estrutura circular para iluminação – ressaltando a ideia das formas totêmicas de Mestre Didi que sugerem uma conexão entre céu e terra; entre o mundo dos humanos e o universo espiritual. “Durante muito tempo as obras do Mestre foram expostas na frente da parede, chapadas. Aqui o público tem a oportunidade de circular entre elas, tendo diferentes visões, de diferentes perspectivas”, explica Deri Andrade, curador assistente.
A exposição ressalta, ainda, a forte presença das mulheres na vida e obra do artista, começando por sua própria mãe, a Mãe Senhora – uma das maiores guardiãs da experiência do candomblé na Bahia que tanto inspirou Didi. Sua companheira, Juana Elbein, foi a primeira a teorizar a produção do Mestre Didi, retirando-o do lugar da arte popular. Outra figura protagoniza é Inaicyra Falcão, filha do Mestre. Cantora lírica e pesquisadora das tradições Yorubá no campo da dança e artes cênicas, Falcão define a ancestralidade não como algo estritamente ligado ao passado, mas como recriação por meio do que é vivido no cotidiano – ritualização dos gestos; cantos; hábitos alimentares; e, formas de vestir, pensar e agir.
Feitas de fibras do dendezeiro, búzios, contas, sementes e tiras de couro, a esculturas apresentam forte presença de símbolos que remetem às tradições iorubá. A equipe curatorial consultou os membros do Ilê Asipá para definir a ordem de apresentação das esculturas divididas em três tipologias: pássaros; serpentes; e, por fim, as esculturas que dialogam com as ferramentas ligadas aos orixás. Convidou, ainda, Edivaldo Bolagi, um dos lideres do terreiro, para compor a paisagem sonora da exposição; e Rei Batuque , artista que vive num quilombo em Brumadinho, para criar uma parede de sopapo fazendo referência à construção do Ilê Asipá.
A palha do dendezeiro tem um significado especial pois, na cultura Yorubá, remete ao sagrado, a algo que afasta os maus e se relaciona com alguns orixás, como Xangô, um dos mentores do Ilê Asipá. Também se relaciona com a questão do panteão da Terra, e com uma força de onde emerge a vida e a morte.

Expansão de símbolos atávicos
É esta mesma ancestralidade que busca a artista Mônica Ventura ao criar a instalação “A noite suspensa ou o que posso aprender com o silêncio” , na entrada da exposição de Mestre Didi.
Conhecida por pesquisar materiais orgânicos e efêmeros, além de trazer referências de diferentes práticas religiosas de matrizes ancestrais, a artista criou uma instalação composta por uma figura também totêmica e envolvida pela significativa palha que representa Lingam, divindade hindu, eo universo masculino. No solo, é possível ver uma forma feita com o barro da região que se assemelha ao símbolo Yoni, forma que remete ao feminino e cujo significado do termo, em sânscrito, refere-se às noções de “passagem divina” ou “fonte de vida”. “A combinação entre as duas formas, se vista de cima, faz referência a Shiva Lingam, a síntese das energias do universo. É sobre a geração da vida de uma forma mais expandida”, explica a artista.
O blocos de terra sobre as paredes da instalação apresentam símbolos universais, presentes em várias culturas e momentos da história. “São símbolos encontrados em diversas partes do globo. Considero como símbolos ancestrais, uma espécie de software que já nasce com a gente. Este é um símbolo adinkra que é, na verdade, um búzio”, explica Ventura apontando para um dos desenhos. O tridente, que aparece repetido formando uma espécie de roda-escudo, é visto como um elemento de proteção e poder – podemos encontrá-lo na India; no Brasil, pois é muito usado nas religiões de matriz africana; e, na Europa, na cultura escandinava. “Quero criar uma ideia de expansão destes símbolos”.

Dança espiralar
A figura central de quase 5 metros faz um comentário, ainda, sobre os zangbetos, espíritos ancestrais cultuados em algumas religiões no Golfo do Benim, responsáveis pela proteção e afastamento de males; e sobre os praiás – elementos fundamentais da cosmologia Pankararu, povo originário brasileiro cujo território tradicional se encontra próximo ao rio São Francisco, que marcam a presença dos Encantados, entidades vivas ligadas diretamente ao plano espiritual. Nos dois casos a manifestação acontece por meio da dança e do uso de um tipo de máscara de corpo inteiro feita de palha. Quem ocupa aquele corpo persiste como incógnita; ele observa, mas não pode ser observado.
Ao lado deste ser misterioso, mágico e dançante, em um dos blocos de terra, um conjunto de letras chama a atenção: NTANGA. Trata-se de uma mesma raiz utilizada, em uma das línguas bantu, do Congo, para os verbos escrever e dançar “que nos remetem a outras fontes possíveis de inscrição, resguardo, transmissão e transcrição do conhecimento, práticas, procedimentos, ancorados no e pelo corpo, em performance”, como define Leda Maria Martins, teórica que defende o reconhecimento da voz e do corpo como lugar da memória, num diálogo preciso e vigoroso com Inaicyra Falcão.
“Para mim, o ato de escrever e dançar ao mesmo tempo traz uma relação de emoção e razão”, pontua a Monica. Parece que já passou da hora de escutar Didi, Martins, Falcão e Ventura e deixar que os nossos ancestrais guiem nossos corpos e vozes.