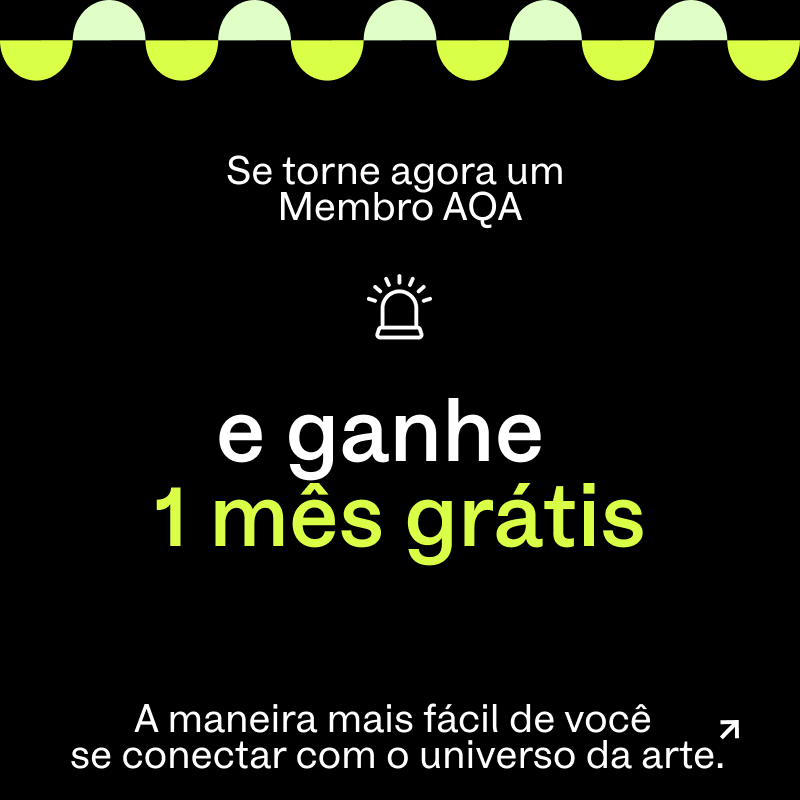Da direita para a esquerda: Diane Lima, Rosana Paulino e Adriana Varejão. Créditos: Wallace Domingues, Rodrigo Ladeira e Tinko Czetwertynski
Em uma edição histórica, o Pavilhão do Brasil será composto inteiramente por mulheres, sob curadoria de Diane Lima, a primeira mulher negra a ocupar esse cargo. A participação integra a 61ª Bienal de Veneza, que tem como tema In Minor Keys. Em conversa exclusiva com o trio, elas falaram sobre Comigo ninguém pode, projeto que representará o país entre 9 de maio e 22 de novembro de 2026.
Saí dessa troca com Diane, Rosana e Adriana com uma impressão nítida de que havia um pacto de cuidado. Comigo ninguém pode nasce de um imaginário popular brasileiro, a planta no peitoril, o amuleto, o aviso, e ganha dimensão coletiva no momento em que o país chega a Veneza com duas artistas fundamentais da arte contemporânea nacional e uma curadoria que adota a escuta como método.
No Brasil, essa espécie vegetal tem uma presença ambivalente e cotidiana. Cresce em vasos de barro nas casas populares, aparece em terreiros e janelas de apartamento, passada de geração em geração. Carrega, ao mesmo tempo, a ideia de proteção e a lembrança do veneno. Essa familiaridade torna o nome da mostra profundamente ligado à cultura do país, um reflexo da forma como fé, resistência e afeto se misturam no dia a dia. “’Comigo ninguém pode’ é um estado de espírito. Ele reflete o momento que a gente vive, não só político, mas também o lugar que o Brasil ocupa hoje no mundo. É uma frase que fala de fé, natureza, defesa e soberania”, afirma Diane.

Rosana Paulino, Sem título, da série Jatobá, 2019. Cortesia Mendes Wood DM
Há os dados concretos, como o anúncio da Fundação Bienal de São Paulo, as datas, os nomes, e o conceito que lê a planta como uma metáfora de força e vulnerabilidade. Mas o núcleo do projeto está nos diálogos entre as artistas e na revisão das narrativas marcadas pelo colonialismo – tema que estrutura tanto a pesquisa de Rosana Paulino quanto a de Adriana Varejão, cada uma reconfigurando esse passado a partir de diferentes matrizes.
Rosana revisita a herança colonial a partir do corpo e da memória, e questiona como a mulher negra foi representada e silenciada ao longo da história. Sua produção reúne costuras, colagens, sobreposições, desenhos e pinturas para tornar visível essa ferida e afirmar outras formas de presença. Adriana parte da materialidade e do barroco para refletir sobre o mito da identidade nacional e o legado da colonização portuguesa. Em suas pinturas, o azulejo se mistura à carne, metáfora visual do país e das rupturas que o formam. No encontro entre as duas, a planta-título parece agir como mediadora, um símbolo das contradições e permanências da história brasileira.

Adriana Varejão, Darlingtonia “misteriosa”, 2012 © Adriana Varejão
A presença das três personalidades se insere em um contexto mais amplo da Bienal. Em 2019, o Pavilhão da Lituânia (trio feminino de Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė e Lina Lapelytė) venceu o Leão de Ouro por Sun & Sea (Marina). Em 2022, sob direção de Cecilia Alemani, mulheres representaram cerca de 90% dos mais de 200 artistas da mostra central – um contraste radical com décadas anteriores, em que a média não passava de 30%. Foi também o ano em que artistas negras ocuparam alguns dos pavilhões mais visíveis: Sonia Boyce levou o Leão de Ouro de Melhor Participação Nacional pelo Pavilhão do Reino Unido; Simone Leigh (primeira mulher negra a representar solo os EUA) recebeu o Leão de Ouro na mostra central; e Zineb Sedira representou a França.
A edição de 2026 se distingue pelo tema In Minor Keys, concebido pela curadora senegalesa Koyo Kouoh, que faleceu de forma repentina em maio de 2025. Kouoh seria a primeira mulher negra à frente da Bienal de Veneza. Sua proposta – dedicada às frequências sutis e às narrativas que se sustentam fora do tom dominante – permanece como eixo da edição de 2026, agora conduzida pela equipe de curadores que ela constituiu; Gabe Beckhurst Feijoo, Marie Helene Pereira, Rasha Salti, Siddhartha Mitter, e Rory Tsapayi.
Foi nesse terreno de afetos, política e história que a conversa com Diane Lima, Rosana Paulino e Adriana Varejão começou a desenhar os primeiros contornos do projeto.
Confira a entrevista completa:
Jessica Factor: O título Comigo Ninguém Pode carrega um saber popular muito presente na cultura brasileira, com uma camada afetiva e ambígua – algo entre proteção, resistência e toxicidade. Que tipo de força ou escudo essa metáfora aciona quando levada para o campo da arte e da ideia de Brasil em Veneza?
Diane Lima: Esse título aparece como um estado de espírito – uma mensagem que reflete o contexto que a gente vive, não apenas na política nacional, mas também nessa posição privilegiada que o Brasil ocupa hoje dentro de uma geopolítica global. Comigo ninguém pode oferece uma série de significados. Há algo muito importante que passa pela manifestação da fé na cultura brasileira e por essa relação íntima com a natureza como parte fundamental da expressão artística, e também como forma de defesa e soberania. São estratégias do cotidiano, conhecimentos que vêm do aprofundamento com a natureza e se traduzem na vida.
Essas são tecnologias que o Brasil tem a oferecer, e falam sobre esse inconsciente coletivo que se forma a partir da experiência com a natureza. Também é uma maneira de pensar nossa espiritualidade, que não é exatamente religião, mas é essencialmente sincrética. Comigo ninguém pode carrega esse sincretismo de forma contundente, como possibilidade de cura, mas também de toxicidade. E ele é performativo – qualquer pessoa pode dizer comigo ninguém pode e se apropriar disso. É um projeto coletivo, um convite ao diálogo num momento em que conversar é tão difícil. As artistas dizem “sim” a esse diálogo, e isso oferece ao mundo uma mensagem sobre coletividade. Esse “comigo” se torna um “nós”.
O título também encontra ressonância nas trajetórias da Adriana e da Rosana: o debate sobre as feridas coloniais, o lugar da reinscrição da história, até o momento de metamorfose – uma palavra importante para o título. As duas articulam imaginação, liberação e mobilização coletiva em diferentes linguagens, da materialidade à abstração. Tudo isso está por trás do Comigo Ninguém Pode.
Rosana Paulino: Há 30 anos atrás isso seria inimaginável – um Pavilhão do Brasil com três mulheres, duas delas negras. Quando comecei minha carreira, eu não imaginava ver um panorama como esse. Acho que é isso que a arte pode oferecer também, esse exercício de imaginação política. Vejo que a sociedade brasileira avançou um pouco. Falta muito diante do que ainda precisamos fazer, mas avançou.
Jessica Factor: Já há um ponto de intersecção que vocês reconhecem como inevitável nesse diálogo entre as duas produções?
Rosana Paulino: Essas intersecções aparecem de diferentes maneiras. Primeiro, nas coisas que chamam nossa atenção – há um revisitar da história do país, dos fascínios e dos pontos de partida. Ainda não sabemos o que vai estar no pavilhão, quais obras, se haverá trabalhos em conjunto, mas já há conversas. Comentei com a Adriana sobre os azulejos que vi em São Luís – fiquei encantada com as cores. E ela me disse: “esses azulejos do lado de fora são uma conquista primeira brasileira”. Então, pensar essa colonialidade parte muito da gente. Como isso vai aparecer em Veneza ainda está em construção, mas o ponto comum é esse examinar sobre a formação do país.
Adriana Varejão: É um encontro marcado. Diferentes sensibilidades, vozes e histórias. O feminismo negro está muito presente, e eu me coloco num papel de escuta e diálogo. Esse diálogo através da escuta vai gerar o trabalho. Ainda está cedo para colocar a mão na massa, mas já começou.
Diane Lima: Essa metodologia da escuta e do cuidado faz parte da curadoria – um outro tipo de aproximação com o trabalho das artistas e com o público.
Jessica Factor: Rosana, você participou da Bienal de Veneza em 2022, na mostra The Milk of Dreams, que também tratava de metamorfose e reimaginação dos corpos. Agora você volta dentro do Pavilhão do Brasil. O que muda nessas duas experiências?
Rosana Paulino: Muda totalmente. E no meio do caminho tem a Bienal de São Paulo. Minha primeira participação em Veneza foi boa, mas marcada por um momento muito difícil. Durante o processo de seleção das obras, meu pai adoeceu e acabou falecendo, e eu não consegui acompanhar tudo como gostaria. Felizmente, a curadora havia escolhido um conjunto grande de trabalhos que eu também gostava, o que me deu tranquilidade naquele período. Foi um processo longo, pessoalmente delicado.
Depois veio a Bienal de São Paulo, e aí pude mostrar, em grande escala, outra faceta do trabalho. Sempre tratei da formação do país e da colonialidade, mas recentemente entrei na questão da psicologia negra feminina. Quando trato de racismo científico, uso a fotografia – me aproprio do meio que causou tanto prejuízo para a população negra e inverto o sinal. Mas quando entro na psicologia feminina, vou para o mundo das plantas e do desenho.
A Bienal de São Paulo foi um desafio enorme. A sala era grande, a obra cresceu, e surgiram aquelas quatro mulheres-mangue enormes. Agora, essa volta a Veneza vem filtrada por esses dois momentos – o diálogo com outra artista que também pensa o país e foi para o mundo das plantas, e esse mergulho mais profundo que a Bienal de São Paulo me permitiu.
Jessica Factor: Adriana, você participou de uma exposição no Pavilhão Japonês em 1995, e também da Bienal de São Paulo em 1994 e 1998. Trinta anos depois, o que mudou na arte brasileira e na leitura internacional sobre o país?
Adriana Varejão: O Brasil hoje faz parte do circuito mundial. Na década de 1990, o circuito era muito marcado por questões geográficas – hoje há uma pluralidade muito maior, uma presença mais ampla no panorama internacional. Essa divisão das Bienais por representações nacionais é uma estrutura antiga. Veneza é uma das poucas que ainda mantém isso. Esse jardim de pavilhões é um espelhamento de uma política internacional e de hierarquias.
Acho que a gente vem com uma proposta de criar um ambiente que acolha. Pensamos como mulheres. Não estamos falando só de ecologia, estamos falando de uma planta que habita o espaço doméstico, que habita um certo imaginário espiritual. Acho que é esse tipo de aproximação com o público que buscamos.
O Pavilhão do Brasil é marcado pela arquitetura modernista dos anos 1950 – essa conformação do quadrado, que agora vai ser habitada por mulheres. Isso é importante quando pensarmos nas propostas plásticas. Mas tudo parte do diálogo, da interação e do que ainda vamos desenvolver.
O encontro entre Diane, Rosana e Adriana inaugura uma nova página para o Pavilhão do Brasil – menos institucional e mais sensível ao tempo que vivemos. A presença das três aponta para um país que se repensa pela arte, que encara o próprio passado sem medo e entende a representatividade como parte da história que ainda está sendo escrita.