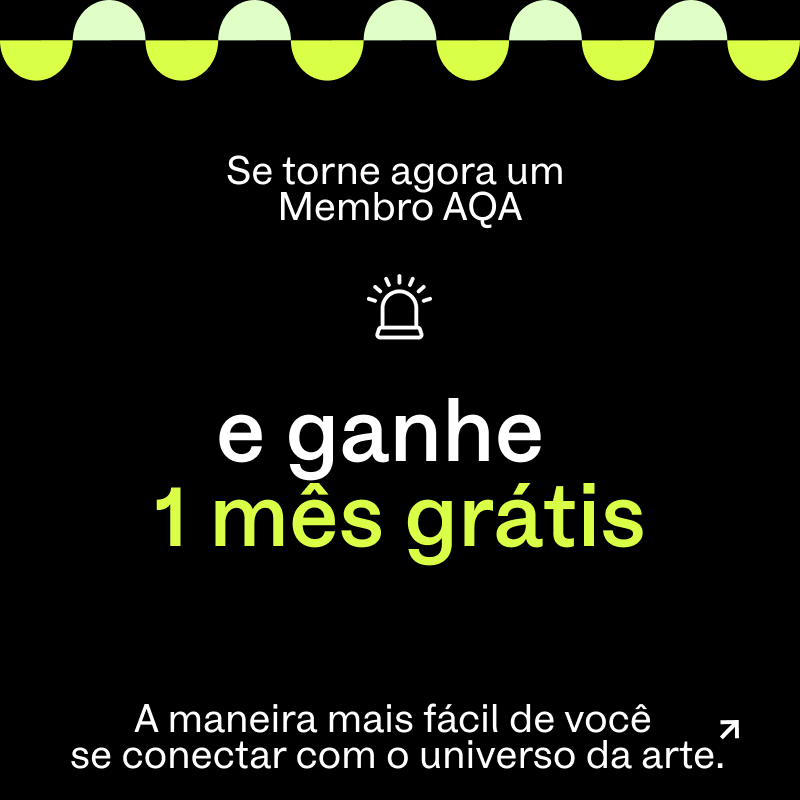Com a aproximação da 60ª Bienal de Veneza, que acontecerá entre 20 de abril e 24 de novembro, o Brasil se prepara para protagonizar um capítulo memorável no cenário artístico internacional. Além da estreia do brasileiro Adriano Pedrosa como primeiro curador sul global, em quase 130 anos, da mais antiga exposição de arte do circuito, a proposta que o Pavilhão do Brasil – agora chamado Hãhãwpuá – apresentará neste ano tensiona diferentes tradições, resgatando algumas originárias, enquanto rompe com outras mais recentes. Dentre essas rupturas, se destaca o anúncio do time curatorial (Arissana Pataxó, Denilson Baniwa e Gustavo Caboco Wapichana) pela Fundação Bienal de São Paulo no ano passado, que quebrou com a tradição que levava os mesmos curadores da edição mais recente da Bienal de São Paulo para curar o pavilhão brasileiro em Veneza.
Em entrevista, o trio comentou sobre a importância de utilizar um espaço como o da Bienal para dar voz às produções indígenas brasileiras, considerando que esta é uma oportunidade rara quando ainda se luta pelo direito à vida e território – vide caso do dia 22 de janeiro, quando aproximadamente 200 ruralistas armados cercaram o Território Caramuru, em Potiguará (BA), e mataram a Pajé Nega Pataxó. Sobre o contexto em que se inserem, Denilson é categórico: “Pouco me interessa, por exemplo, uma resposta do mundo da arte para esses trabalhos, para mim importa a ampliação da voz dessas pessoas [indígenas] para falar de realidades locais que se conectam com as globais de outros indígenas”.
Por que o Pavilhão Brasileiro foi renomeado para Hãhãwpuá?
O Brasil, como é chamado desde 1527, já teve e tem até hoje outros nomes, sendo Hãhãwpuá um deles, de origem Pataxó. Tal como outros que passaram pela colonização, o país é hoje conhecido pelo termo que reflete a primeira impressão do europeu sobre nossas terras. No caso, o nome significa “Vermelho como uma brasa”, fazendo uma referência a cor do Pau-Brasil, matéria-prima amplamente extraída daqui para tingir tecidos portugueses. O mesmo vale para vizinhos como a Colômbia, que em seu nome não apenas presta homenagem ao líder da primeira expedição espanhola que chegou à América em 1492, como também indica seu pseudo-proprietário: “Terra de Colombo”; ou ainda a Venezuela, que mesmo tendo uma área territorial mais do que duas vezes maior do que a cidade italiana, é chamada de “Pequena Veneza”.
A nova designação proposta pela curadoria se refere, portanto, não ao território que foi invadido e usurpado, e sim àquele onde habitam povos que, como nos lembra Gersem Baniwa, nunca se submeteram a colonização, mas resistem até hoje com suas tradições e culturas pré-colombianas.
O que significa o nome da exposição?
Para o título da mostra foi escolhido “Ka’a Pûera: nós somos pássaros que andam”, cujo subtítulo faz referência à instalação homônima de Célia Tupinambá, na qual ela narra sua missão de recuperar material e culturalmente a tradição dos mantos que foram levados por diversos museus europeus.

A palavra “capoeira” (ka’a pûera) é hoje popularmente atrelada ao esporte de origem dos tempos coloniais no Brasil, quando escravizados praticavam golpes e desvios corporais, disfarçados entre música e elementos coreográficos, a fim de se defender das brutais perseguições dos capitães do mato, cuja atribuição era capturar quem havia fugido. Mas essa mesma palavra também é empregada, no tupi, para se referir às zonas de mata que, anteriormente derrubadas pela ação humana ou natural, estão em processo de auto-regeneração, dando lugar para vegetações mais baixas [ka’a (“mata”) e pûer (“que foi”) / ka’a pûera =”o que foi mata”]. Provavelmente não à toa, o nome da capoeira enquanto esporte, também tem relação com os locais onde era originalmente praticada: em campos abertos e sem vegetação.
Mas há ainda um terceiro significado para esta palavra. Para os Tupinambá, a capoeira é uma pequena ave terrestre que vive em florestas densas, camuflando-se de seus predadores. Sendo assim, o título é como metáfora para a situação das populações indígenas no Brasil desde a colonização, citando seus recursos para se defenderem, se camuflarem, se manterem vivos e ressurgirem. Aqui, o sentido de “ressurgimento” também é uma citação ao fato de que o povo Tupinambá havia sido erroneamente dado como extinto até o ano de 2001, mas hoje tem pouco-a-pouco conseguido fazer sua voz ser ouvida, conquistando seus direitos civis e se inserindo nos espaços de arte contemporânea.
Qual a relação entre a exposição do Pavilhão Hãhãwpuá e o da exposição principal?
A exposição “Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere” [Estrangeiros em Todos os Lugares] curada por Pedrosa, terá foco no atual deslocamento humanitário, abordando a desterritorialização de diferentes grupos sociais.
Segundo o dicionário Oxford, estrangeiro é “o que é de outro país, ou o que é proveniente, característico de outra nação / o que não pertence ou que se considera como não pertencente a uma região, classe ou meio”. Do latim, extraneus: “o que é de fora, desconhecido, não-familiar, de extra, fora”.
Traçando um panorama da história brasileira, de um lado, temos os colonizadores, indivíduos que vieram de fora e se sentiram possuentes do território a ponto de dizimar nativos, bem como suas culturas e ecossistemas. Do outro, aqueles que já estavam aqui anteriormente e foram colonizados, escravizados, ou extintos, senão marginalizados em seu próprio território. Quem desses é de fato estrangeiro? – é o que nos questiona essa edição da Bienal. Denilson Baniwa responde: “O descendente do colonizador, o proprietário de fazendas ou de qualquer espaço territorial do Brasil, que com a ajuda do Estado criminaliza pessoas indígenas no país, chama os indígenas de invasores. Eu acho que não é sobre o que é o estrangeiro, mas sobre quem ‘estrangeiriza’ o outro.”
Continuando seu raciocínio, ele reflete: “se sentir estrangeiro dentro do próprio território é quando, por exemplo, vamos a universidade e o nosso idioma não é reconhecido para a produção intelectual”, argumentando que, além do português, idiomas estrangeiros como inglês, espanhol, francês, italiano e alemão são aceitos na apresentação de trabalhos acadêmicos no Brasil, enquanto os idiomas indígenas falados atualmente no país, são considerados pelo Estado como inválidos. Esse é um exemplo de feridas herdadas de 1758, quando Marquês Pombal proibiu o ensino e prática de línguas nativas, que até hoje são impedidas de cicatrizarem.
Quem serão os artistas e quais obras levarão ao Pavilhão?

Glicéria Tupinambá, artista já anunciada ano passado, está trabalhando com a Comunidade Tupinambá da Serra do Padeiro e Olivença, na Bahia, para apresentar “Dobra do tempo infinito”, uma videoinstalação com sementes, terra, redes de arrasto e jererés; e “Okará Assojaba”, uma instalação com Mantos Tupinambás e onze cartas (bem como suas respostas) escritas pela artista e enviadas aos museus que possuem mantos tupinambá e outras partes de sua cultura em seus acervos.
Os mais recentes artistas anunciados, Olinda Tupinambá e Ziel Karapotó estão atualizando trabalhos já anteriormente apresentados ao público. Na vídeo-instalação “Equilíbrio”, Olinda traz Kaapora, uma entidade espiritual vigilante da nossa relação com o planeta, que dá nome ao projeto de ativismo ambiental conduzido pela artista na Terra Indígena Caramuru. Já “Cardume” de Ziel, consiste em uma instalação que confronta processos coloniais, unindo uma rede de tarrafa, maracás de cabaça e réplicas de projéteis balísticos. Ao fundo, uma paisagem sonora com sons de rios e torés (cantos tradicionais do povo Karapotó) se misturam a sons de disparos de armas de fogo.