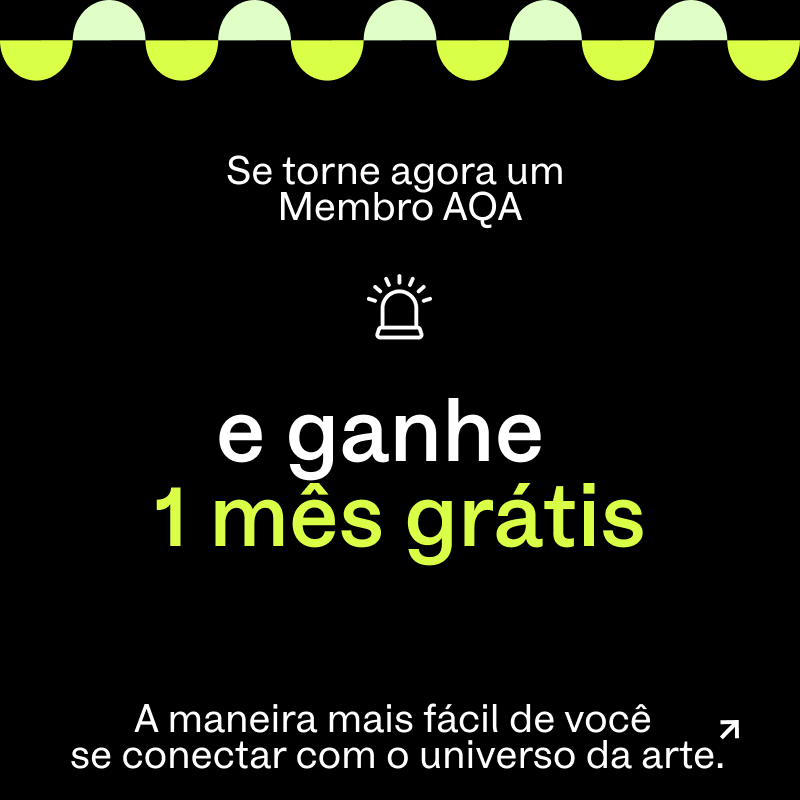Temos visto, nos últimos anos, um esforço reiterado de instituições (tanto no Brasil quanto no exterior), de criar espaços, mostras e recortes específicos que protagonizam e resgatem mulheres artistas. Desde incursões pelo Renascimento, com a recuperação de nomes como Sofonisba Anguissola e Artemisia Gentileschi – que tem batido recordes em leilões e foi incluída em coleções importantes como a National Gallery, de Londres –, passando pela modernidade – com mostras como “Frida Kahlo – Conexões entre mulheres surrealistas no México” (Instituto Tomie Ohtake, São Paulo, 2015-16), “Tarsila do Amaral: Inventing Modern Art in Brazil” (MoMA, Nova York, 2018) e “City of Women” (Belvedere, Viena, 2019) – e especialmente no contemporâneo – como as inicitivas “Radical Women: Latin American Art, 1960–1985” (Hammer Museum, Los Angeles; Brooklyn Museum, Nova York; e sua versão brasileira “Mulheres Radicais“, na Pinacoteca de São Paulo, 2018). O MASP, inclusive, dedica toda sua programação ao tema “Histórias das mulheres, histórias feministas”, e uma mostra de mesmo título será montada no museu em agosto de 2019. As artistas têm tornado-se foco de programas expositivos, de pesquisas acadêmicas monográficas e panorâmicas e, mais amplamente, de debates sobre o lugar ocupado pela mulher e pelas mulheridades (1) (incluindo, mas não limitando-se às comunidades LGBTQ e não binárias) na sociedades.
Apesar da relevância e potência imensuráveis dessas e de outras diversas iniciativas (sejam elas institucionais, comerciais ou acadêmicas), há um certo desconforto quando tratamos de exposições dedicadas apenas a mulheres. Ainda que estejamos longe de uma reparação de séculos de exclusão sistemática, é suficiente promover mostras com recorte de gênero ou dedicar um ano de programação como formas de mudar esse cenário? Projetos de investigação histórica que “resgatam” mulheres artistas das notas de rodapé ou do total apagamento têm um papel essencial na recuperação e na reescrita da história da arte, uma tarefa hercúlea de fim imprevisto (senão infinito). Essa re-contextualização nos ajuda a pavimentar as bases para pesquisas futuras, ao mesmo tempo que desconstrói certas falácias, especialmente sobre a capacidade, talento, dom ou genialidade (ou falta deles) nas mulheres dos séculos passados. Questões assim já foram lindamente colocadas por Linda Nochlin, no célebre ensaio “Why Have There Been No Great Women Artists?” [Por que não existiram grandes artistas mulheres?], e continuam a ser perguntadas até hoje por pesquisadoras e artistas.
Mas é preciso também refletir sobre o papel das práticas curatoriais, acadêmicas e comerciais no contexto da arte contemporânea na construção de um futuro de equidade. No Brasil enfrentamos um problema duplo: de um lado, há uma desigualdade constante e gritante na presença de mulheres artistas nas exposições que não tem um recorte específico de gênero, o que reafirma a percepção de estarmos ainda patinando na luta contra o sexismo e a discriminação latente que sempre marcaram o circuito artístico no país. De outro, quando museus promovem pesquisas dedicadas apenas a mulheres, ou quando editais dedicam-se exclusivamente a artistas do sexo feminino, não é incomum ouvir que tais iniciativas acabam por enfraquecer a desconstrução dos paradigmas sexistas e enfatizam a equivocada visão de que essas artistas só estão presentes pelo gênero – como se não merecessem seu lugar para além do gênero (caso contrário, continuariam sem espaço). As políticas afirmativas têm seu papel reparativo, mas não podem limitar-se a si mesmas. Ao final, parecemos perder em ambos os lados: se não lidamos com a desigualdade, perpetuamos o status quo; se dedicamos mostras e programas inteiros às mulheres, reforçamos essa marginalização. Como podemos, então, alterar o sistema?
Ainda que para muitos essas colocações possam parecer absurdas, não podemos esquecer que a sociedade em que vivemos institui esses padrões de desigualdade: no mercado de trabalho, por exemplo, mulheres chegam a ganhar apenas 70% do que homens que ocupam a mesma posição, e quando em posição de chefia, chegam a ganhar apenas 1/3 do salário de sua contra-parte masculina. No sistema cultural, as disparidades continuam presentes em dados concretos. Nas galerias contemporâneas no Brasil, temos um número significativo de mulheres à frente dos negócios – contudo, em geral, o número de artistas representados é o dobro ou maior do que o número de mulheres artistas representadas – com algumas galerias chegando a ter apenas 1/5 de mulheres em seu time. O mesmo se repete nos funcionários das instituições culturais. Educadoras, curadoras assistentes, coordenadoras, são majoritariamente lideradas por diretores e curadores-chefes: isso se constata em praticamente todos os museus e espaços culturais de São Paulo, com o processo de tomada de decisão se concentrando em 75% ou mais em figuras masculinas. Já quando analisamos as 33 Bienais de São Paulo já realizadas, apenas 3 mulheres ocuparam o cargo máximo: Aracy Amaral (1978), Sheila Leirner (1985) e Lisette Lagnado (2006).
Para complicar ainda mais esse cenário, questões de raça e de classe também são essenciais nesses debates. Se mulheres artistas já têm seu espaço confinado e restrito, mulheres artistas negras têm muitos mais obstáculos a vencer e, portanto, sua presença é extremamente reduzida. Essa segregação é reiterada no sistema cultural: se houve apenas 3 mulheres curadoras na Bienal de São Paulo, quantas delas eram negras? Das poucas mulheres representadas comercialmente por galerias, quantas delas são negras? E se nos voltamos às mulheres trans, a situação colocada torna-se ainda mais crítica – a representação em galerias é praticamente nula, assim como a presença em exposições. Gênero e raça são parte do tecido da vida e a arte pode ser apenas mais um campo no qual reproduzimos as desigualdades ou então pode ser um lugar de reparação e superação. Podemos escolher de que lado estamos.
Apesar de desejar que já tivéssemos superado essas anacrônicas discriminações raciais e de gênero, é preciso reconhecer a importância das iniciativas que tentam apontá-las e, de certa forma, corrigi-las, sem, contudo, deixar de criticar os aspectos que reforçam os preconceitos. Fora do Brasil, iniciativas como a Associación MAV (Mujeres en las Artes Visuales), da Espanha, ou o movimento Nosotras Proponemos, da Argentia, vem buscando promover a visibilidade e a equidade das mulheres no campo da arte. Ainda há um longo caminho a percorrer, tanto em nosso país quanto no resto do mundo, e está claro que não basta apenas darmos às mulheres um espaço segregado, ou um ano de programação dentro de séculos de esquecimento. É preciso, porém, tomar cuidado com as formas que escolhemos para enfrentar essas batalhas, para que não perpetuemos visões monolíticas de raça e gênero e nem construções estáticas sobre o feminino.
Com colaboração inestimável de Flavia Gimenes, Gabriela De Laurentiis e Natalia Forcada.