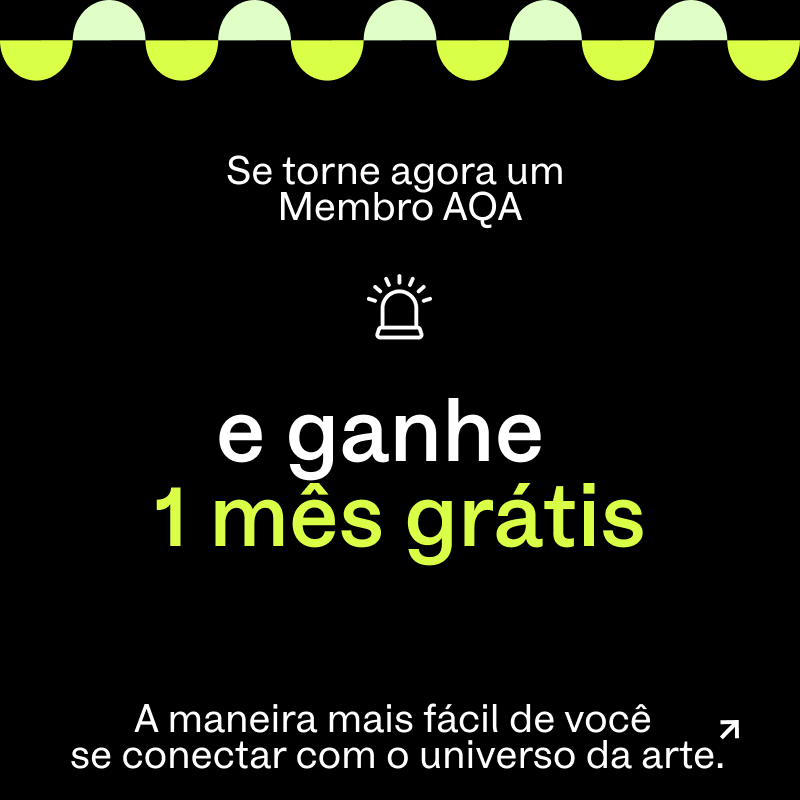O ARTEQUEACONTECE entrevistou as curadoras Cecilia Fajardo-Hill e Andrea Giunta sobre a exposição “Mulheres Radicais“, em cartaz na Pinacoteca, e também sobre os movimentos feministas, violência, arte contemporânea, os espaços ocupados pelas artistas mulheres e perspectivas da revisão da representação feminina na história da arte.
A exposição é uma versão da mostra original, apresentada no Hammer Museum em 2017, de Los Angeles, e depois no Brooklyn Museum, em Nova York. Mas, apesar de reduzida, esta montagem da Pinacoteca traz novidades: artistas e trabalhos que não figuraram nas itinerâncias agora integram o corpo expositivo trazido a São Paulo, como Wilma Martins com a série “Cotidiano” e Maria do Carmo Secco, cuja obra é parte da coleção da instituição.
De acordo com Fajardo-Hill, trazer a mostra para um país latino, especialmente para o Brasil era algo essencial ao projeto: a exposição apresenta 25 artistas brasileiras, o que reforça o papel do país nessa releitura da história da arte contemporânea. Saiba mais na entrevista abaixo.
Julia Lima: Andrea, por que você afirma que não podemos dizer que todas as artistas na exposição são feministas, de um jeito ou de outro?
Andrea Giunta: Eu posso dizer que muitas dessas artistas estavam trabalhando em uma época na qual os direitos da mulher estavam na primeira linha, estavam trabalhando no horizonte cultural da época. Mas muitas delas dizem que não querem ser reconhecidas como “artista mulher”, querem ser reconhecidas como artistas. Mas na verdade o conceito do artista é um conceito criado a partir de uma perspectiva patriarcal, eu e Cecilia dizíamos que era preciso criar um novo conceito de artista, porque essa ideia de artista é alguém dedicado exclusivamente à produção, ele estuda e trabalha. Mas a mulher artista tem que encontrar tempo porque tem filhos, tem a casa, tem o marido. Ela tem que cuidar das pessoas doentes da família, dos idosos – a mulher é sempre a responsável. Por isso temos que mudar o conceito de artista. Por isso nós focamos nas obras, elas criaram isso, e ninguém pode apagar. Às vezes a artista foi para o exílio, ou até morreu, mas com esses trabalhos não dá para ignorar que elas existiram. Ela pode ter até feito um trabalho incrível, mas quando vão escrever a história, a eliminam. Então, para nós o problema é muito complexo. Eu trabalho muito com estatística para provar que a representação das mulheres, na arte contemporânea, é muito menor que a dos homens. No melhor dos casos, é de 30%, e no pior, zero. Recentemente uma pessoa me disse que no Brasil não temos esse problema, mas sempre digo que temos que fazer as contas.
J.L.: Tendo já feito essa pesquisa, essas contas, posso dizer que isso não é verdade. As galerias no Brasil tem de 5 a 10% de artistas mulheres em seus quadros.
A.G.: Bom, quando apontamos 3 mulheres, as pessoas falam como se já fossem muitas, como se fosse suficiente. Essa é uma exclusão permanente. E é muito difícil porque ainda há mulheres muito patriarcais. Mas nós dizemos que esse feminismo atual, esse feminismo novo, tem como base uma importante mudança de postura: para nós, o importante é a transformação, e não a confronto; porque não adianta ficar confrontando e dizendo “você é machista”. Eu também já fui machista. Especialmente dentro do circuito da arte, que é especialmente machista, e mais, racista e classista.
J.L.: E o que você acha que podemos fazer dentro desse meio para mudar as coisas?
A.G.: Faço parte de um grupo na Argentina que acaba de conseguir estabelecer a representação igualitária de homens e mulheres na seleção do Salão Nacional de Artes Visuais. Eu já tenho muito tempo de trabalho na Argentina e escrevi ao ministro da cultura, e enviei as estatísticas. E não escrevemos um manifesto, porque acreditamos que esse seja um gênero machista. Mas escrevemos um compromisso, e fomos criticadas porque era muito longo (risadas). Quando começamos com o projeto, muita gente foi contra e se opôs à nossa pesquisa, dizendo que isso era um assunto do passado. Por isso eu fui levantar as estatísticas, para provar que é um problema.
J.L: Como você vê o ensaio da crítica americana Linda Nochlin, “Por que não existiram grandes artistas mulheres?”, de 1971, à luz de sua pesquisa e dessa exposição?
Cecilia Fajardo Hill: Eu acho que este ensaio é um texto absolutamente fundamental, ele gerou uma pergunta que é muito importante. Mas sempre digo que a pergunta que eu me fiz é “onde estão as mulheres?”. Eu não parto de um pressuposto negativo, parto de uma afirmação: se elas existem, onde estão? E é preciso encontrá-las. Este foi um dos primeiros textos feministas que li. Primeiro li Simone de Beauvoir, mas não tinha ligação direta com a arte. O primeiro texto feminista que li e que me fez questionar-me sobre arte foi esse. Mas para a América Latina, no século XXI, não podemos mais usar essa pergunta [posta por Linda Nochlin]. Já sabemos que elas existem, porque depois desse texto encontraram Artemisia Gentileschi, e muitas outras mulheres. Hoje sabemos que muitas mulheres pintavam sob pseudônimos masculinos ou que não eram reconhecidas. A mulher nunca teve lugar, nem na Grécia que foi o auge da civilização ocidental – no teatro grego, que era tão importante, os papéis femininos eram performados por homens. As mulheres não tinham lugar, essa submissão patriarcal vem desde muito tempo já. Mas, quando começamos esse projeto, sabíamos que havia mulheres artistas, tínhamos que encontrá-las, e por isso essa pesquisa era tão necessária.
J.L: Por isso foram tantos anos de pesquisa?
C.F.H.: Sim, porque a pesquisa era necessária, mas também porque o projeto começou em um museu que depois não quis continuar, e ficamos sem lugar. Mas eu sabia que era algo que tinha que fazer, estava farta! E então o Hammer estava procurando um projeto, e me chamaram. Apresentei a pesquisa e me chamaram. O museu adorou a proposta. E foi lindo porque não precisávamos explicar porque era importante fazer uma exposição de mulheres. Isso foi três anos depois que começamos, três anos de pessoas dizendo que o projeto era um lixo, nossos colegas inclusive. O argumento era de que essa exposição não era necessária, que as mulheres artistas já têm espaço, e que fazer uma mostra só de mulheres era um conceito patriarcal, estereotípico. Mas eu sou historiadora da arte, tenho direito de estudar um assunto que me importa, que é importante! A base da história da arte é a pesquisa, como podiam me dizer que esse campo não é necessário? Quando íamos aos países fazer pesquisa e perguntávamos a alguns pesquisadores, curadores e artistas locais se conheciam artistas mulheres desse período, várias vezes a resposta era “não conheço nenhuma”. O que acontece é que quando as pessoas escrevem os livros, elas até sabem quem são as artistas importantes, mas escolhem não inseri-las em suas pesquisas, e isso é a hierarquia da visibilidade – nessa visibilidade se apagam artistas que foram de fato importantes.
J.L.: Claro, a história da arte é escrita pelos vencedores. Nesse sentido, a representação do corpo da mulher também é um problema?
C.F.H.: Sim, apagam as linguagens que não são hegemônicas, vêem a arte que não é europeia como primitiva. Quando estava estudando história da arte, víamos as mulheres nas obras de renascentistas como Botticelli, pensávamos “onde estão as mulheres como nós?”. Não as encontrávamos. Nosso corpo não é um corpo clássico, da mulher alta, branca, loira. As mulheres eram representadas na história da arte ou porque eram belas, nesse padrão, ou porque eram importantes. Na exposição, temos um corpo democrático. Todas estamos representadas aqui. Nessa questão do corpo, o problema não está só na representação. Esterilizavam mulheres sem seu consentimento, como uma eugenia. Tinham que controlar a população, então as latinas, as chicanas, as negras eram esterilizadas para que não tivessem mais filhos. A exclusão do patriarcado passa por violências como os abusos mas também como estas medidas, de eliminar a possibilidade de reprodução, e eliminar a possibilidade de estarmos representadas.
J.L.: Algo interessante do período abordado da exposição é que essas mulheres não estavam em contato, não tinham formado uma rede, mas estavam produzindo coisas similares porque estavam lidando com questões parecidas. É possível dizer que elas criaram uma linguagem singular?
C.F.H.: Claro! Entre 60 e 85, quando se firmaram a linguagem contemporânea como a entendemos hoje, estas mulheres, que teoricamente estavam em países subalternos, estavam experimentando da mesma forma, estava produzindo da mesma forma. Estavam experimentando usar câmeras, por isso há tantas foto-performances na exposição. Não as realizavam em público porque, talvez, não tivessem público.
J.L.: Ou talvez porque a repressão e a censura não permitissem.
C.F.H.: Sim, muitas vezes a polícia chegava e confiscava o trabalho ou reprimia as mulheres. Elas tinham que parar ou tentar fazer em outro lugar. E era perigoso. Especialmente porque muitas delas trabalharam durante ditaduras.
J.L.: Eu acho importante também comentar o título da mostra, que não é uma mulher radical mas sim no plural.
C.F.H.: Eu acho que se voltamos à sua primeira pergunta, sobre Linda Nochlin, que é uma pergunta sobre a história da arte, creio que o gesto afirmativo dessa exposição, para além de termos 120 ideias distintas de radicalidade (não é uma ideia homogênea de uma artista radical, de uma mulher artista), é que para os pesquisadores do futuro, especialmente aqueles que não se perguntam sobre onde estavam as mulheres, a ideia é que entendam é que a história da arte que vai ser feita a partir de agora não pode ser feita sem mulheres. Eu digo sempre que meu papel, uma mulher de mais de 50 anos, foi de fazer uma declaração muito simples: há mulheres, hay mujeres, there are women! Isso é uma declaração tão básica. Mas agora o que fazer com essa informação é o dever da próxima geração, perguntar onde estão, quais são as outras histórias, que mais podemos descobrir dessas artistas? A nova pergunta não deverá ser onde estão. Estão aqui. E há muitas mais.