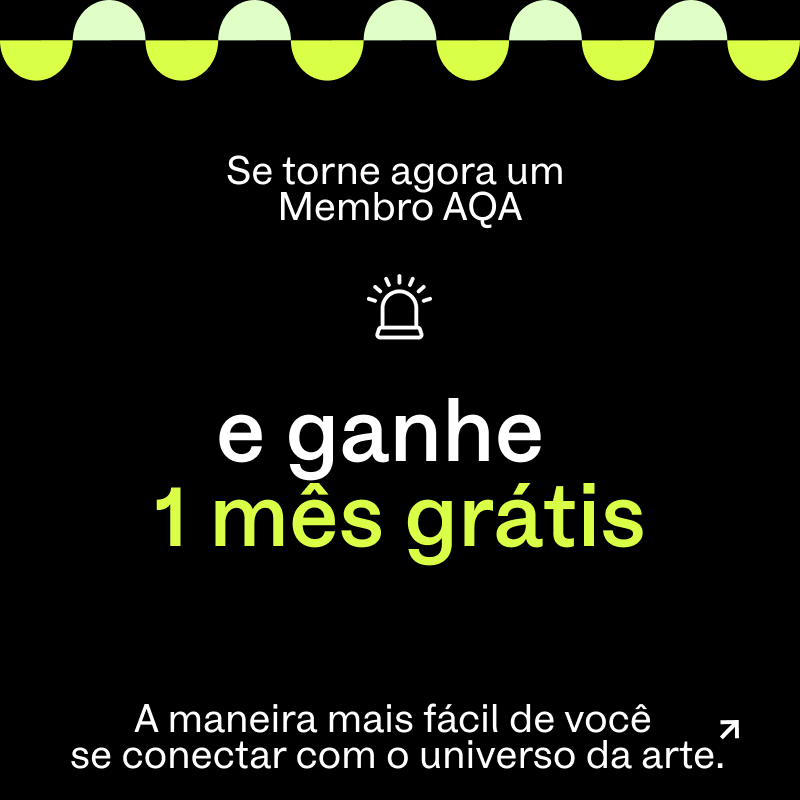O ARTEQUEACONTECE vem entrevistando diversos artistas, curadores, críticos e agentes do campo artístico, em um esforço de criar registros históricos do nosso tempo e de nossas manifestações culturais contemporâneas. Mas, às vezes é possível também encontrar artistas de inegável importância histórica que foram deixadas de lado nas narrativas oficiais escritas sobre os anos 70, 80 e 90 (e não só no Brasil, mas também no exterior). Gretta Sarfaty é um desses nomes: artista paulistana pioneira na arte performática, na autorrepresentação e no uso do próprio corpo para construção de identidades, Gretta vem sendo esquecida ou até mesmo apagada dos livros que tentam mapear a história da arte brasileira no pós-segunda-guerra. Mas esse apagamento vem sendo corrigido aos poucos, com a tese de mestrado de Nadiesda Dimambro, uma mostra recente na Galeria Pilar, a reinserção no circuito comercial em São Paulo, e agora essa extensa entrevista que a artista concedeu ao ARTEQUEACONTECE, na qual conta sobre sua produção, sua vida, e a indissociabilidade das duas.
Julia Lima: Como você começou a se interessar por arte? Como foi a sua entrada no mundo da arte, antes até de você ser artista?
Gretta Sarfaty: A minha família não tinha nada a ver com arte. Minha mãe estudou na Itália, era historicamente bem informada, sabia quem foi quem, os políticos e tal, mas arte, ela tinha o dom de tocar piano. Seguir e colecionar arte não tinha nada a ver com isso. Aliás, naquela época, a educação que ela queria me dar era pra casar jovem.
JL: E virar dona de casa.
GS: É, e virar dona de casa! Então quando acabei o colegial ela falou que eu poderia fazer prendas domésticas. Eu falei que casava, fazia tudo direitinho, mas que ela me deixasse fazer o que eu quero, e eu quero ir pro científico estudar física nuclear, eu adorava física. Eu tinha duas paixões: física e arte. Eu desenhava toda hora. Por exemplo, se tinha uma classe que eu não gostava, as meninas se punham do meu lado e eu pintava elas, fazia os retratos, desde os 10, 11 anos, então era uma coisa nata. A física é porque eu me interessava muito por matemática, ia muito bem.
JL: Era nato então como você falou, já vinha de criança. E aí você foi estudar arte? Teve educação formal em arte?
GS: Eu estudei na FAAP em alguns cursos e também na Pan-Americana de Arte e lá conheci o Walter Levy, que me influenciou um pouco, mas a pessoa que mais influenciou meu trabalho foi o Ivald Granato. Eu virei artista no momento em que o conheci. Ele disse: se solta, pinta com café, etc., e aí imediatamente eu comecei a fazer os trabalhos da série Metamorfose e trabalhava todo dia – meu cotidiano, tinha a ver com o meu dia-a-dia de casa, a moça que trabalhava em casa, o motorista… Eu achava muito estranho aqueles chás todos “fru fru” de donas de casa então eu fazia elas fazendo uma sátira. Aí o Franco Terranova gostou dos trabalhos. Eu pintava muito, fazia entre três e cinco desenhos por dia, e ele comprou todos e fez uma exposição na época em que eu estava ainda com o Granato em um acompanhamento.
JL: E como era, você ia no atelier dele, você convivia com o Granato?
GS: É, eu convivia com o Granato aí pegaram meus trabalhos e fizemos um grupo, conheci todos os artistas do grupo.
JL: E foi aí que você começou a fazer os autorretratos? Que é anos 70, né?
GS: Justamente. Depois dessa exposição, o Franco Terranova disse que precisava de uns dois anos mais para entrar na galeria, porque eu não tinha currículo nenhum. Ele falou que em 1976 eu faria uma exposição na Galeria Arte Global, que era uma galeria aqui em São Paulo ligada à Rede Globo. Então pra isso eu tinha que arrumar meu currículo direito, porque eu não tinha nenhuma exposição e ficava feio. Foi aí que participei do [Salão de] Sorocaba, e para estar um pouco mais pronta para a exposição. Quando chegou a hora, eles falaram que eu tinha direito a um comercial sobre mim que ia passar na Rede Globo e que eu poderia fazer uma chamadinha curta. Eu acho muito monótono um vídeo dizendo: Olha, eu pinto assim, eu faço isso etc., eu achei muito bobo e pedi pra me deixarem ver a produção de vídeo, que eu queria mexer com a tecnologia e aí criar alguma coisa, foi aí que distorci as caras.
JL: Essa foi a primeira vez!?
GS: Foi, em televisão. Se chama Cinco Fotos. E aí eu procurei esse trabalho na exposição da galeria de Arte Global, ninguém deu bola, isso foi em 76. Aí eu disse: Vamos distorcer as fotos, vamos colocar no vídeo, e como distorcer as fotos, na máquina de regulação eu peguei umas fotografias que tinham tirado da minha cara e na revelação eu distorci o papel no ampliador, olhando como ia sair, remontei e fiz uma foto final. Foi assim que começou mas não estava na exposição, isso estava no vídeo.
JL: E aí quando você viu a sua auto-imagem, você começou a fazer propositalmente?!
GS: Eu fiquei obcecada, falei que coisa incrível, eu só fazia aquilo. Eu fui em um estúdio onde eu podia revelar minhas próprias fotos e o editor da época, ele tinha uma editora incrível, ele gostou dos trabalhos e resolveu publicar, patrocinou o livro com minhas imagens e foi aí que fiz o Auto-fotos. E eu comecei a fazer essas fotos fazendo imagens grandes de fotografia e montagem, comecei a pintar as imagens, isso já tem muito a ver com meu lado obsessivo por repetição. Por exemplo, na gravura eu fiz ponta seca, eu tinha minha própria impressora, pegava a placa, desenhava, eu mesmo imprimia, eu consegui explorar o meio de cada técnica. Sempre foi uma coisa inerente a minha personalidade. A performance nasceu depois. Eu já estava fazendo performance com a minha foto…
JL: Claro, você performava para as imagens, para as auto-imagens.
GS: Sim, para a imagem. Comecei com aquelas fotos em sequência distorcendo o corpo, destruindo a imagem de beleza. Eu usava alguns símbolos de beleza daquela época, esteriótipos, os clichês como aquela peruca loira, o batonzinho, e aí tinha um toque de ironia. Por exemplo, você pode olhar a máscara da mulher e tem uma colinha aparecendo, uns detalhes já bem satíricos, né. Estava usando a minha cara como um meio de expressão.
JL: Essa auto-performance era uma coisa muito nova na história da arte.
GS: Eu acho que não tinha ninguém aqui no Brasil que fez feminismo e performance naquele momento. Pelo livro da Nadiesda, nessa pesquisa que ela fez sobre mim para o mestrado, ela fala que eu sou a precursora que falou sobre feminismo, fotografia ligada ao feminismo e body art.
JL: E como foi essa exploração do feminismo para você?
GS: Eu não sou feminista de carteirinha, no meu ser, na minha maneira de ser como mulher, como pessoa, com minha identidade, é natural pra mim, o ser tem que ser autêntico, tem que ser ele mesmo. Por isso quando eu ia nesses lugares, nesse trabalho, as pessoas fuxicando, falando de festinha, tem um lado ridículo das coisas, eu sempre tinha um lado critico sobre isso, então a minha procura era ser como eu sou.
JL: E nesse sentido então você vê que o feminismo estava sempre presente, era também algo quase inato?
GS: Exatamente. De querer me expressar, de querer me impor com uma imagem do que eu sou, era uma preocupação muito grande que eu tinha.
JL: A sua família esperava que você trilhasse um outro caminho, né? Você optou por fazer o que queria, e deve ter sido muito, muito difícil.
GS: Ah, eu encontrei uma saída. Casei, encontrei um homem muito bom quando eu tinha 16 anos. Ele era muito apaixonado por mim então eu pensei que vou fazer o que quiser se for casada com ele, então essa é minha liberdade. Ficamos casados por 17 anos, tivemos três filhos, e ele foi muito legal, deixava eu fazer tudo que eu queria, podia me expressar, fazer o que eu quisesse e tal. Foi muito legal até quando eu quis me separar e para minha família, ser artista é ser maluca, drogada, etc etc. Eles disseram que iriam me internar no sanatório de doentes mentais, é fácil provar que você não regula. (risos) Pois é, com tudo aquilo que eu já estava fazendo seria fácil mesmo. Aí naquela época eu tinha feito o trabalho Auto-fotos eu fui pra Europa, porque eu ficava lá três meses por ano e nessa época meu marido ficava com as crianças e eu viajava a trabalho, pesquisando. Eu estava me sentindo muito forte com esse trabalho e bati no Musée d’Art moderne de la Ville de Paris e me apresentei.
JL: Foi quando você fez a performance com o gato?
GS: Não, foi em 1977. Assim que eu fiz esse trabalho eu pensei: Esse país aqui não entende nada disso, eu era linchada os outros artistas achavam que era ridículo.
JL: Ninguém dava respaldo?
GS: Poucos, o Arthur Barrio e o Tunga. Os outros achavam que eu era uma dondoquinha fazendo besteira. Ai eu fui pra Europa por que estava muito certa disso, muito confiante, tinham os críticos que falavam, então eu sabia do valor daquilo, eu sentia. Ai eu fui na diretora de uma revista e ela se encantou, imediatamente fez um artigo e um vídeo e ela me mandou pro Artpress, que fez um artigo, aí fui convidada pra uma exposição lá em Paris no Pompidou, conheci Gillo Dorfles, que é um crítico de arte. E eu tinha um grupo de amigas feministas lá. Nós tínhamos um grupo. Eu ficava aqui pelos meus filhos e como foi difícil me separar eu descobri um jeito, nós fomos morar separados. Cada um saía quando queria e para não denegrir a imagem dos meus filhos, eu só saía de noite e me vestia, me personificava de japonesa pra encontrar o Mário Gruber. Nós ficamos juntos por cinco anos. E meu ex-marido queria se separar de mim. Como minha família era muito poderosa, ele me seguiu e fez fotos minhas indo lá [no Mário]. Aí fui chamada pela minha família no dia seguinte e fui linchada, acabada, sem dinheiro, sem nada. Você imagina, um escândalo. Ele podia fazer o que queria. Aí acabou, eu fiquei com meus filhos sem um tostão, eles davam dinheiro direto para a empregada, uma coisa muito humilhante, e eu disse pra ele vender a casa e me dar alguma coisa porque eu não podia ficar sendo humilhada desse jeito, então eu tive que sair da casa para poder vendê-la. Peguei uma casa mais modesta com meu companheiro Becheroni.
JL: E onde você conheceu o Becheroni?
GS: Na Itália, em uma exposição. Eu estava sempre lá, galerias me queriam, viajava a trabalho, então foi realmente acontecendo. Ele era conservador de arte, artista tradicional, eu falei pra ele que, pra gente estar junto, talvez eu o incluísse em um trabalho mais vanguarda: “assim você se moderniza um pouco” (risos). Aí ele ia me ensinando como sobreviver, vender e tal, a gente uniu essas duas coisas. E foi então que eu fiz o trabalho “Gretta e Becheroni”. Eu estava insistindo em morar aqui [no Brasil] pelos meus filhos. Quando eu peguei essa casa, eu falei pros meus filhos virem morar comigo. Eu vivia do meu trabalho, estava bem, mas eles falaram que queriam mordomia, motorista, casa na praia, então ficariam com o pai. Aí eu falei “já que é assim, eu não vou ser mãe de domingo, eu vou embora”. Então fui embora pra Nova York. Eu tinha um estúdio com o Becheroni na Itália, mas a gente ficava entra lá e cá. Nova York foi quando eu fui de vez, de mala e cuia. Não tinha dinheiro, troquei trabalhos por estadia… Ele ficou e eu fui embora.
JL: Foi nesse momento em que você começou a fazer o vídeo do Dating? De que ano é aquele vídeo, 85?
GS: 85, 86. Em 83 fui pra Nova York, 84 teve o incêndio.
JL: E foi também o ano que você fez o Goya, foi em seguida do incêndio você fez essa peça super radical. Foi o trauma do incêndio que te despertou?
GS: Eu estava estudando Cabala, e fogo é o renascer, você limpa todo teu passado – que era muito conturbado e renasce de novo bebê–, então era como se você tivesse nascido de novo. Eu re-nasci num país assim que me acolheu. Eu estava estudando misticismo barra pesada, meu professor da Cabala disse pra eu ir com calma, que eu estava me aprofundando muito, exagerando e eu ia chegar num ponto que eu teria um choque. Mas sabe gente obsessiva? Eu continuei, continuei e continuei e cheguei num impasse de contradição comigo mesma e com o que eu estava aprendendo. Você tinha que seguir os preceitos daquilo e era muito difícil, eu estava sozinha em Nova York. E uma das coisas era não acender a luz no Shabbat, e virar tipo um anjo: anjo não anda de carro, não coloca maquiagem, não faz sexo. Eu estava estudando, lia os livros, e entrei em contradição muito grande com uns assuntos porque eu queria encontrar minha alma gêmea virgem. E eu entrei em contradição com isso e eu ví que estava barra pesada eu não sabia o que fazer da minha vida. Nesse dia do incêndio, eu fui dormir uma, duas horas da manhã, e eu acendia as velas tipo seis da tarde. No Chelsea Hotel, onde eu vivia, tinha um hall no meu quarto, e eu tirei o abajur e coloquei lá no chão e eu acho que a lâmpada caiu e o tapete, que era de nylon, pegou fogo. Eu acordei rodeada de fogo. Eu pensei que estava sonhando, pensei “que sonho esquisito”. Fechei os olhos e comecei a sentir o cheiro e disse: peraí, acho que isso aí é fogo mesmo (risos). Eu lá deitada, olhando, pensei que só dava pra sair pela escada de incêndio, que era do meu lado direito. Eu estava de camisola, e naquele dia estava nevando muito, era Thanks Giving [Dia de Ação de Graças]. Eu quebrei o vidro da minha vizinha com a mão e entrei gritando: Sai, sai, tem fogo! Ela gritava pelo cachorro, não queria sair sem o cachorro. Aí eu abri a porta dela e o fogo já tinha se espalhado. Eu pulei pelo fogo e foi quando queimou meu cabelo. Eu desci a escada de incêndio e falei para o cara da portaria que era urgente, pra ele chamar ajuda, e ele só me olhou e continuou o que estava fazendo. Tinha tanto doido naquele hotel que ele achou que eu era mais uma. Aí eu fui no orelhão e liguei pra polícia, bombeiro. O hotel ficou feliz, não só porque limpou a carga (risos), mas também nasceu de novo, foi renovado, e ninguém morreu. Eu me chamava de white witch. Para mim foi um renascer. Renasci nos Estados Unidos como americana nova, fiz milhões de amigos lá, e a minha energia, minha criatividade renasceu. Como aquele trabalho Goya.
JL: E como foi esse trabalho sobre o Goya lá? A recepção foi positiva?
GS: Foi uma coisa de uma noite, era um Happening, foi incrível. Cinco mil pessoas ou mais participaram, uma coisa fenomenal, dá pra ver um pouco no vídeo. Não era uma coisa pra ser repetitiva, porque era a proposta. Não é o teatro que você repete, era uma criação, uma obra de arte.
JL: Bom, eu acho o Goya uma situação mágica de tão forte que é o trabalho. E o que veio em seguida?
GS: Foi o “My single life in NY”. Eu nasci de novo, me assumi como mulher independente, estava lá como se fosse uma adolescente, porque eu casei com 16, né, então estava lá em Nova York, jovem, bonita, então estava reiniciando tudo. A coisa mais importante pra mim naquela época era meu trabalho, estava focada no trabalho. Depois disso, fiz exposições e eu queria ter um loft no Soho, porque era onde tudo estava acontecendo, e eu consegui com um financiamento que você pagava por mês como se fosse um aluguel, ai consegui um estúdio maravilhoso e enorme no Soho. Eu anunciei como Bed and Breakfast [pousada], chamando pra virem ficar com uma artista e ter uma experiência com ela. Cobrava 150 dólares por dia, era ótimo, as pessoas sentiam como era conviver com uma verdadeira artista no Soho. Aí eu fiz uma exposição e conheci o diretor Arthur Penn, que fez “Little big man”, “Bonnie and Clyde”. Ele viu meu trabalho Soho scenes – eu sempre faço trabalhos sobre aquilo que estou vivendo no momento. E ele [Arthur Penn] falou que era isso que ele queria: “uma mulher que faça retrato, que tenha um loft no Soho e que saiba pintar, é ela!”. Aí ele me descobriu. Daí eu fui no script reading com o Gregory Peck e a Lauren Bacall. Lá estava eu com a Cecília Peck, que representaria a minha personagem. A personagem do filme era uma artista que queria mostrar pros pais dela que ela era importante, que o que ela fazia tinha valor, e isso era muito minha história, então por conta disso o script foi mudando pra minha história. Eles copiaram todo o meu loft, levaram lá pra Carolina do Norte no estúdio de gravação, e eu fui junto também pra ensinar as atrizes no set como ser eu. Levaram todas as minhas coisas do meu estúdio de pintura, fizeram uma réplica completa, até o catálogo da exposição Soho Scenes replicaram. Foi uma coisa incrível. Isso virou um filme, chamado “The Portrait”, um longa metragem.
JL: No seu trabalho, é como se você fosse o oposto do que a Sophie Calle faz… Ao invés de ser a artista que vai imitar a vida, é a vida que vai imitar a artista.
GS: Nossa, você pegou uma coisa interessante, hein Julia, gente, até fiquei arrepiada.
JL: É a vida que imita a arte, não é a arte que imita a vida.
GS: Sim, isso! Ai esse longa metragem é a história dessa menina baseado em mim, no meu loft, na minha vida, no filme mostra ela lá pintando e tal, mas era um filme meio água com açúcar… O Gregory Peck estava querendo por a filha dele como atriz, mas ela não era uma grande atriz, a Cecília Peck, mas a Lauren Bacall era incrível e o Arthur Penn, que diretor, ele era incrível, lindo. Vou te mostrar umas fotos. Foi aí que eu decidi que estava na hora de criar raízes, eu já estava com uns 41, eu viajei e foi aí que eu conheci meu marido. Foi amor à primeira vista, ele parecia muito o meu pai, olhar vaidoso, meio bonachão e apesar de ser 14 anos mais velho que eu. Eu me apaixonei por ele e ele por mim então eu mudei, fui morar em Londres, onde eu fiquei por vinte anos só (risos).
JL: Só, uma vida inteira (Risos). E, em paralelo, aqui no Brasil, seu trabalho nem “acontecia”, no sentido de não ter galeria, representação comercial, exposições…?
GS: O que aconteceu foi o seguinte, tinha o Camilo Bassur(?) que foi um art dealer muito importante que estava aqui e iria me representar. Inclusive foi ele que organizou uma retrospectiva minha no Museu da Imagem e do Som, e ele iria me lançar lá mas ele faleceu antes. Isso foi em 1988, eu vim da Europa pra isso. Então eu fiz essa exposição mas como eu não tinha um art dealer que me seguisse, eu não deixei nenhum trabalho por aqui.
JL: E quando você voltou pro Brasil?
GS: Então, eu me separei do meu marido depois de 14 anos. Peguei um espaço em Kings Cross, fiquei lá uns cinco anos. A galeria fechou em 2013, fiz uns trabalhos meus, exposições e aí me mudei. Mudei pra cá em 2015. O último trabalho que eu fiz pra fechar a galeria foi um trabalho que eu queria voltar as raízes: quem sou eu, da onde eu venho, começou a me preocupar, então eu comecei a procurar as histórias de onde eu venho, da minha família, e fiz uma séria chamada Família Memorabilis e Wedding Pictures. Foi ai que fiz esse trabalho, encerrei a galeria e começou esse processo. Eu começei a vir pro Brasil, minha mãe estava doente, e começou aquele outro trabalho em consequência daquela procura que eu tinha de voltar ao Brasil, Reconciliation. São as pinturas digitais e interferências nas fotos.
JL: Esse foi o momento de reconciliação com a sua história e com o seu passado…
GS: E com o Brasil. Muito com o país que me acolheu muito bem de volta. A exposição Reconciliação foi muito bem na galeria Pilar, foi super legal, a mídia toda estava lá. E agora estou produzindo coisas novas.
*** Com colaboração de Felippe Moraes e Hugo Salgado.