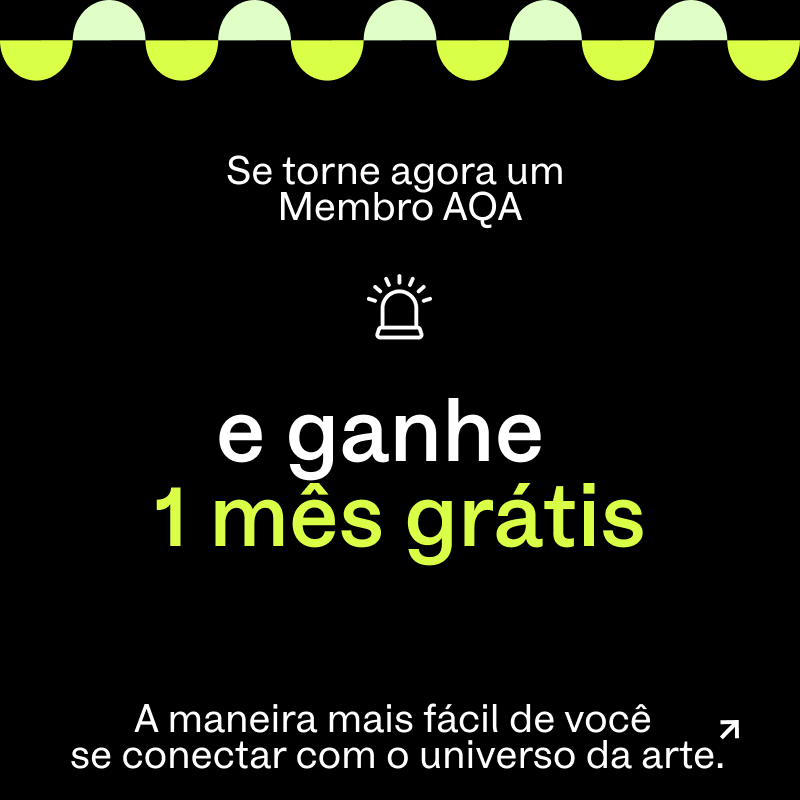Às vésperas de sua abertura, a 36ª Bienal de São Paulo já se anuncia como uma edição marcada pela densidade conceitual e pela aposta em novos modos de imaginar a humanidade. Intitulada Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática, a mostra é conduzida pelo curador geral Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, acompanhado de Alya Sebti, Anna Roberta Goetz e Thiago de Paula Souza, além da cocuradora at large Keyna Eleison e da consultora de comunicação e estratégia Henriette Gallus.
Inspirada em versos de Conceição Evaristo, René Depestre, Édouard Glissant e Patrick Chamoiseau, a Bienal se estrutura em fragmentos curatoriais que trazem temas como a escuta, o espelhamento no outro e os espaços de encontro. A metáfora do estuário – território onde águas diferentes se encontram sem perder suas singularidades – torna-se a chave de leitura para pensar negociações, contrastes e formas de convivência em um mundo permeado por assimetrias.
Nesta entrevista, Bonaventure fala sobre poesia como metodologia curatorial, o lugar do estuário no projeto, as experiências internacionais que antecederam a edição, os riscos assumidos pela equipe e até mesmo o papel das tecnologias ancestrais diante do debate contemporâneo sobre inteligência artificial.

Jessica Factor: Falando sobre o título da 36ª Bienal, que parte de um poema de Conceição Evaristo e propõe a humanidade como prática, como verbo. Na sua visão, o que significa traduzir poesia em metodologia curatorial? Como a palavra e a escuta se transformam em espaço expositivo?
Bonaventure Ndikung: Eu acredito que fazer uma exposição é um gesto poético. Poetas escrevem poemas usando palavras no papel. Curadores, idealmente, escrevem poemas nos espaços com a ajuda das obras dos artistas. A poesia é também uma prática muito especial: é sobre espaço, é sobre ritmo. E se você pensa em ritmo, você pensa em espaço. É sobre encontrar as palavras certas – poucas palavras – para expressar conceitos maiores, para contar histórias amplas. O sentido está nas palavras. A prática curatorial, especialmente o que fazemos aqui na Bienal, é pensar o espaço e, por meio de poucas palavras, tentar transmitir narrativas e preocupações maiores do mundo, sempre com a ajuda das obras que temos à disposição.
JF: A palavra “estuário” é uma metáfora central nesta edição. Diferente de algo que sugere fusão e homogeneização, o estuário preserva diferenças em coexistência. Como essa imagem orientou as escolhas da exposição?
BN: A imagem do estuário entrou como uma forma de pensar os momentos de encontro. Porque todo o projeto é sobre a humanidade como prática, e, ao pensar nesse conceito, um tema central seria o encontro – ou a falta dele. Acreditamos que muitos dos problemas do mundo vêm justamente do fato de que não nos encontramos de verdade. Queríamos usar o estuário como metáfora de um espaço de negociação, onde a água salgada encontra a água doce. Nesse encontro não há apenas homogeneização nem o achatamento das coisas da forma como os humanos desejam que elas sejam. Existem diferentes tipos de animais, vegetação e seres nesse espaço, que estão constantemente negociando suas diferenças. Então a pergunta foi: há algo que podemos aprender desse espaço, como método para a exposição e, de forma mais ampla, para a humanidade? E se adentrássemos os espaços não com um sentimento de supremacia, de onisciência ou de necessidade de subjugar o outro, mas com a disposição de negociar e encontrar um terreno comum? Terrenos comuns não significam uniformidade; significam negociação, identificação de pontos de convergência e também aceitação das diferenças, aprendendo a conviver com elas. Então, para nós, se tornou uma metáfora interessante de usar.
JF: Falando sobre aprender com o outro, você trouxe Marrakesh, Guadalupe, Zanzibar e Tóquio como pontos de partida. Até que ponto essas experiências moldaram o que veremos agora no Pavilhão do Ibirapuera? E como foi equilibrar a ambição global sem perder de vista as especificidades do Brasil?
BN: Acho que precisamos ir além da dicotomia global versus local, porque o Brasil faz parte do mundo. E, portanto, o local é global, e o global é local. A própria história do Brasil é a história de algo que se poderia chamar de internacionalismo. O país é uma ficção construída por seres que vieram de diferentes cantos do mundo e que ainda mantêm relações com outras partes dele. Culturas afro-brasileiras seguem conectadas ao continente africano, culturas euro-brasileiras seguem conectadas à Europa, povos indígenas estão ligados a outros grupos das Américas. De forma prática, trabalhamos as invocações muito de perto com a equipe de educação da Bienal. Assim, tudo o que realizávamos em alguma parte do mundo encontrava ressonância dentro do Brasil. Por exemplo, no Marrocos, ao pensar no gnawa como uma filosofia, um gênero musical, uma metodologia de cura, também pensávamos em algum aspecto cultural brasileiro, como a macumba, que envolve dimensões filosóficas, de cura e de modo de estar no mundo. Ou seja, ao mesmo tempo que atuávamos fora do Brasil, também estávamos conectados ao país. E, de forma muito instigante, nossa equipe de educadores e pedagogos, em diálogo com escolas, percebeu o interesse dos estudantes em como esses conceitos se relacionavam com o Brasil. Seja gnawa, goka, tara ou noum, todos eles encontravam alguma correspondência em práticas culturais daqui.
JF: A edição foi estruturada em torno de deslocamentos, migrações e encontros. Como essa visão dialoga ou entra em tensão com a rigidez institucional que uma Bienal inevitavelmente carrega?
BN: Entendo de onde vem a pergunta, mas não acho que esta Bienal seja sobre deslocamento. Também não é sobre migração. Esses são termos muito usados, mas não são o centro aqui. Ao mesmo tempo, deslocamento e migração são aspectos fundamentais da humanidade – ou podemos chamar de estar em movimento. Tivemos, por exemplo, uma conversa com Jacques Attali em que ele disse que, se fosse conjugar humanidade, seria no verbo “estar em movimento”. Então sim, o movimento é importante, assim como a transformação, a conexão com a terra, a resistência contra opressões, o cuidado, a beleza… tudo isso são aspectos fundamentais da humanidade. Por isso, prefiro dizer que esta Bienal é sobre encontros. A humanidade é uma questão de relacionalidade.
JF: Todo projeto curatorial assume riscos – políticos, artísticos, de recepção. Qual foi o maior risco que você e sua equipe decidiram assumir?
BN: Pensar fora da caixa já foi um risco. Tudo o que fizemos para a Bienal foi nesse sentido. A Bienal nunca havia feito Invocações antes. Levá-la para quatro lugares diferentes ao redor do mundo antes mesmo de começar em São Paulo também foi um grande risco – e funcionou muito bem. Tivemos sete publicações ligadas à exposição: quatro relacionadas às invocações, duas antes da abertura e uma depois. Isso nunca tinha acontecido na história da Bienal. Foi importante porque queríamos focar na produção de conhecimento. Não poderíamos falar de humanidade apenas a partir de São Paulo. Isso seria humanidade em São Paulo, não humanidade no mundo.
Também trabalhamos com artistas de diferentes áreas, como a música e a performance, por exemplo. Além disso, pensamos em uma metodologia curatorial inspirada nos pássaros migratórios que voam do norte para o sul e do sul para o norte, como uma possibilidade de traçar nossos próprios caminhos pelo mundo. Outro ponto foi a própria cenografia da exposição. Pensamos nela como um percurso conceitual fundamental na mostra. Refletimos, por exemplo, sobre a conexão do rio sob o Parque Ibirapuera – o Córrego do Sapateiro – e à forma como ele se conecta a outros rios e retorna ao mar. São muitos riscos, sim, mas todos importantes de assumir quando se quer fazer algo inovador.
JF: Pensando em inteligência artificial para além da lógica do Vale do Silício, poderia ela ser também uma oportunidade de repensar noções ancestrais de tecnologia? Qual a relação, na sua visão, entre cosmologias não ocidentais e esse debate contemporâneo sobre tecnologia?
BN: A invocação em Tóquio nos deu a possibilidade de olhar de forma mais direta para a relação entre tecnologia e humanidade. Voltamos ao conceito do professor Mori do “vale da estranheza”, em que ele mapeia a relação entre a tecnologia e sua semelhança com os humanos. Ele fala da robótica, dos humanoides, e da questão do afeto. Quanto mais tentamos fazer os robôs parecerem conosco, em certo ponto sentimos muito afeto por eles. Mas, quando ficam parecidos demais, caímos no vale da estranheza. Nesse momento, surge quase uma relação de rejeição. Se tomarmos isso como referência e pensarmos na inteligência artificial hoje, podemos dizer que, no início da pesquisa em IA, havia uma relação de afeto – os humanos gostavam, o gráfico subia, porque viam utilidade nos serviços que ela oferecia. Mas, em determinado momento, quando a voz de uma IA pode imitar a sua, Jessica, ou a minha, alguém pode ligar para você dizendo ser o Bonaventure, mas é apenas a IA. E quando chega tão perto de nós, é justamente aí que caímos no vale da estranheza.
Estar em Tóquio nos deu a chance de refletir sobre isso: sobre essas conexões, sobre as problemáticas da tecnologia e nossa relação com ela. O professor Mori escreve nesse ensaio que, para criar tecnologia, é preciso ser espiritual. Ou seja, é preciso partir de um espaço de espiritualidade. E acredito que, quando ele fala em espiritualidade, está se referindo ao respeito – respeito por certos valores humanos. Achei isso muito interessante. Ele também diz que, depois do vale da estranheza, há a possibilidade de subir novamente – o gráfico volta a subir. Ele relaciona isso, por exemplo, com a máscara Noh ou com o Bukami. Cria uma conexão com a máscara tradicional, sugerindo que a tecnologia ancestral pode oferecer ensinamentos. Para mim, isso significa que podemos aprender com esse conhecimento ancestral, com esse design e essas tecnologias, e adaptá-los ao nosso tempo.
JF: Para finalizar, além da metáfora do estuário e dos fragmentos criativos, o que você espera que cada visitante leve consigo como prática de humanidade após viver a Bienal?
BN: Talvez generosidade, bondade, humildade, enraizamento, cuidado, sinceridade, hospitalidade, convivência.