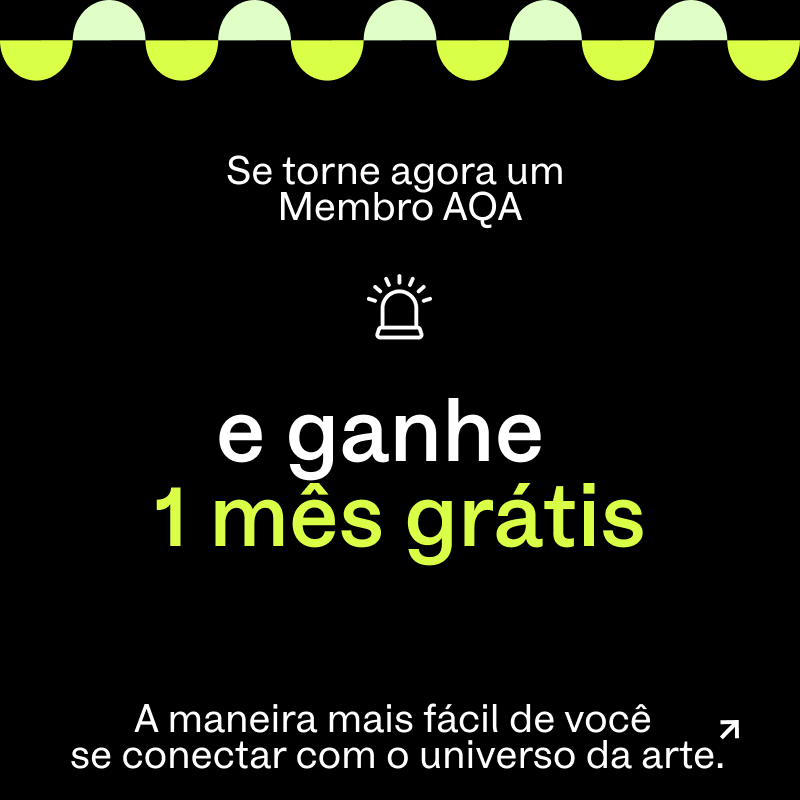Andy Warhol parecia ter compreendido, antes de muitos, o funcionamento de uma era saturada de imagens. Transformou latas de sopa, caixas de supermercado e rostos de celebridades em arte porque sabia que, na cultura contemporânea, a diferença entre objeto e fetiche, entre pessoa e personagem, seria cada vez mais borrada.
Quase quarenta anos após sua morte, Warhol ainda domina o imaginário global. Seu rosto platinado, suas serigrafias coloridas e sua ironia diante da sociedade de consumo tornaram-se tão onipresentes quanto os produtos que retratava. Mas, em meio a tanta repetição e visibilidade, ainda é possível olhar para Warhol com olhos atentos? Ainda há algo a ser descoberto?
Essa é a pergunta que ronda Andy Warhol: Pop Art!, a maior exposição já dedicada ao artista fora dos Estados Unidos, que ocupa o Museu de Arte Brasileira da FAAP, em São Paulo, a partir de 1º de maio. Com mais de 600 obras trazidas do The Andy Warhol Museum, em Pittsburgh, a mostra reúne quatro décadas de produção em suportes diversos – pinturas, filmes, fotografias, publicações, instalações e objetos – sob curadoria de Amber Morgan (diretora de coleções do museu) e Priscyla Gomes (curadora convidada no Brasil).

Não era só sobre latas de sopa
Filho de imigrantes eslovacos e criado em uma família católica em Pittsburgh, Warhol começou como ilustrador comercial, desenvolvendo um traço reconhecível, ao mesmo tempo ornamental e irônico. Nos anos 1950, ao romper com o mercado publicitário, já trazia uma obsessão que o acompanharia até o fim da vida: entender como as imagens circulam, se reproduzem e ganham valor simbólico em uma sociedade mediada pela mídia.
Sua escolha por reproduzir em série objetos banais – sopas, caixas Brillo, garrafas de Coca-Cola – era menos uma provocação do que um diagnóstico: na cultura de massa, aquilo que é consumido define aquilo que é real.
A exposição se estrutura em dois grandes núcleos. O primeiro reúne obras clássicas como as Campbell’s Soup Cans, as caixas Brillo e os retratos serializados de Marilyn Monroe, Elvis Presley e Elizabeth Taylor. A repetição mecânica desses rostos, com cores fortes e variações mínimas, coloca em xeque a ideia de originalidade e antecipa a lógica industrial da imagem.
O segundo núcleo remonta a atmosfera da Factory, estúdio nova-iorquino onde Warhol operava como diretor, editor, produtor e figura pública. Capas de discos, edições da revista Interview e episódios de Andy Warhol’s Fifteen Minutes mostram como ele entendia – e manipulava – os mecanismos da celebridade, da visibilidade e da performance. Ali também estão obras raras, muitas delas expostas pela primeira vez fora de Pittsburgh.

Um artista que não se acomoda
A mostra não se contenta em apresentar os “grandes sucessos” de Warhol. Entre os destaques, está a monumental releitura de A Última Ceia, realizada nos anos finais de sua vida e agora exibida pela primeira vez na América Latina. Criada em meio à epidemia de Aids e à decadência da cena cultural nova-iorquina que o consagrou, a obra mistura espiritualidade, ironia e desamparo.
Outro ponto de tensão da exposição é a série Death and Disaster, que reúne imagens de acidentes, cadeiras elétricas e catástrofes midiáticas. Warhol não emoldura a violência, ele a reproduz, em série, como fazem os jornais. A crítica está no excesso. Essa estética da repetição mórbida – tão presente nas redes sociais contemporâneas – já era intuída por ele nos anos 1960.
Também estão expostas dezenas de Polaroids mais íntimos, muitas feitas por Warhol com sua câmera SX-70, que registram amigos, anônimos, figuras da noite e celebridades. São retratos frontais, com fundo neutro e iluminação direta, quase documentos. Entre eles, aparece o retrato de Pelé, feito para a série Athletes – uma conexão direta com o Brasil e um lembrete de como Warhol via o esporte como mais uma engrenagem na cultura da imagem.

Um artista que falava do agora
Warhol nunca foi apenas o autor de Marilyns em neon. Foi alguém que enxergou, com clareza precoce, a erosão das fronteiras entre o espontâneo e o roteirizado, entre o íntimo e o exposto. Seu fascínio pela visibilidade – por ser visto, replicado, consumido – antecipa, além do ambiente das redes sociais, a lógica da viralização e do efêmero.
Ao dizer que “no futuro, todos serão famosos por quinze minutos”, Warhol não fazia uma piada. Fazia um aviso. Sua obra registra o momento em que a imagem deixou de ilustrar o mundo e passou a organizá-lo. Seus retratos repetidos, suas serigrafias industriais, suas nuvens prateadas infláveis – como na instalação Silver Clouds, presente na mostra – não representam o mundo: são o mundo em sua versão duplicada.
Redescobrir Warhol hoje não significa encontrar obras escondidas, mas aprender a vê-lo de novo, sob a luz do presente. É também compreender que sua obra continua sendo um espelho – ainda turvo, ainda fascinante – no qual projetamos as contradições do nosso tempo. E essa talvez seja sua maior força: seguir dizendo algo novo, mesmo quando tudo parece já ter sido dito.