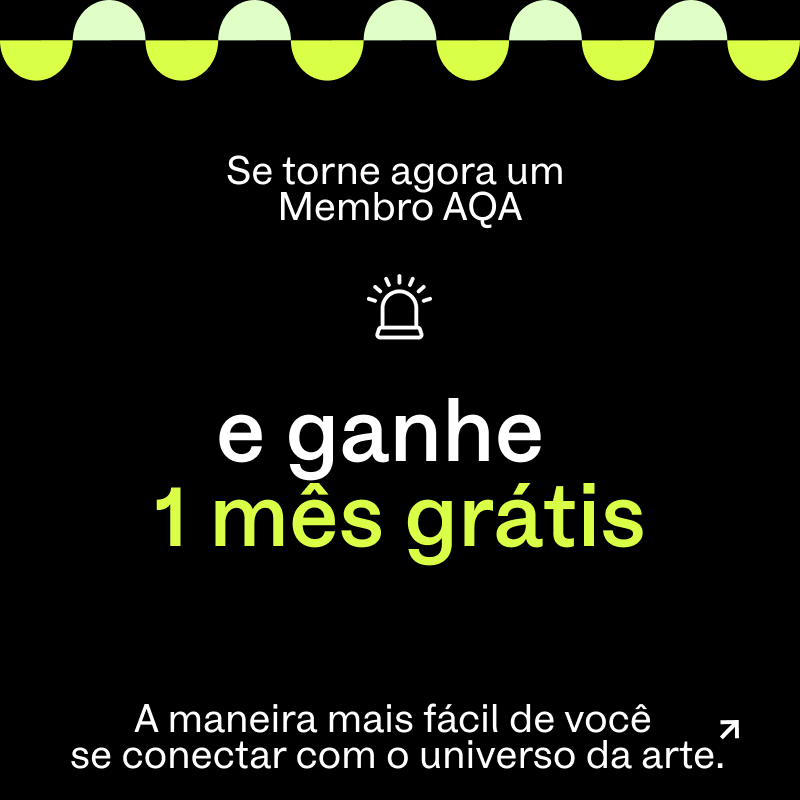Inaugurada em 2018, Ainda assim me levanto, exposição individual de Sonia Gomes em exibição no MASP, em São Paulo, ao lado de A vida renasce, sempre, uma retrospectiva da artista exibida no MAC Niterói, no Rio de Janeiro até novembro do mesmo ano, marcam o 70o aniversário da artista e da institucionalização de seu trabalho no Brasil.
Antes disso, Gomes participou de importantes coletivas internacionais em instituições como o Kunstmuseum Wolfsburg, o Museum of Modern Art Aalborg, o Museum Beelden aan Zee e o USF Contemporary Art Museum, entre outras, além de ter sido a única artista a representar o Brasil na exposição principal da 56ª Bienal de Veneza, o que contribuiu para a ‘descoberta’ da artista por parte da imprensa e do mercado de arte nacionais.
Em Ainda assim me levanto, Sonia Gomes apresenta um conjunto de obras desenvolvido especialmente para o MASP e para a Casa de Vidro, sede do Instituto Lina Bo e P.M. Bardi. Dentre as peças, apenas uma não é inédita: Lugar para um corpo, obra produzida para a mostra Made by… feito por brasileiros, na Cidade Matarazzo em 2014, e que encontra-se suspensa na área externa da galeria, vista através dos panos de vidro mas inacessível ao público.
Na contramão das regras de conservação do museu, Sonia pediu que as cortinas da galeria ficassem abertas em sua exposição, detalhe importante que evidencia o diálogo das obras com a arquitetura do museu e, principalmente, com seu entorno.
O ARTEQUEACONTECE realizou uma entrevista leve e descontraída com Sonia Gomes e a curadora da exposição, Amanda Carneiro, sobre a trajetória da artista, aspectos da criação e desenvolvimento de seus trabalhos, além de percepções pessoais acerca de sua própria obra. Confira abaixo uma seleção dos melhores momentos dessa conversa:
Paula Plee: Você deixou claro em algumas entrevistas que seu processo tem ausência de intenção racional e que você opera mais intuitivamente. No caso de uma exposição com trabalhos comissionados, como isso funciona? Você parte de um tema?
Sonia Gomes: Quando fui convidada para o MASP, o Adriano Pedrosa não me pediu que fosse uma exposição inédita, ele não me pediu tema, porque sou uma artista que não tem um trabalho temático, isso surge depois. Então ele me convidou e na hora já comecei a pensar a exposição. Não perderia a oportunidade de apresentar no MASP um trabalho novo, então comecei a pensar em um trabalho inédito. Ele não me pediu isso, mas eu quis, pois é a primeira vez que exponho em uma grande instituição. Já expus no MAC [Niterói], mas era uma retrospectiva. Aqui coincidiu com minha ideia de produzir um trabalho novo e quis trazê-lo para cá. Estou me apropriando de raízes e gosto muito de surpresa – não queria que as pessoas viessem aqui e vissem a mesma coisa. Já estava com esta ideia de um trabalho muito orgânico, de me apropriar de raízes que encontro por aí.
PP: Você pode nos contar um pouco sobre o processo de encontrar estas raízes?
SG: Foi em uma fazenda em Minas Gerais que vi raízes maravilhosas e pensei ‘que lindo!’. Então trouxe uma raiz pequena e trabalhei nela. O Pedro [Mendes, diretor da galeria Mendes e Wood/DM, que representa a artista] viu, achou interessante e mandou um caminhão lá na fazenda recolher as raízes. Elas eram de uma represa, então, quando o nível da água baixa, começam a aparecer galhos e raízes que estavam submersos.
Amanda Carneiro: E que já foram trabalhados pela natureza.
SG: Que já foram esculpidos pelo tempo e inclusive tratados. Então, chegou esse caminhão no meu ateliê e eu selecionei os melhores, que davam para trabalhar, e estes já foram direto para o tratamento.
AC: Todas elas passaram por um tratamento, porque a umidade e outras características podem ser prejudiciais para o trabalho.
SG: Esse tratamento tem que ser feito e pedi para usar uma cera, no caso, cera de carnaúba, para selar os poros.
PP: No seu trabalho, o tempo está sempre inserido de alguma maneira, como as memórias presentes nos tecidos, e nesta exposição existe o tempo da ‘longa duração da natureza’, como diz a Amanda no texto. Como você vê a questão do tempo nesta exposição?
SG: É esse tempo da madeira que ficou ali adormecida, sendo tratada pela natureza, ou destruída, ou esculpida.
AC: Da minha perspectiva, e como eu até já brinquei, eu gostaria de ter um raio-x do trabalho, porque dentro dele, e eu falo isso no texto, dentro de cada volume que é construído em cada um dos trabalhos, tem muita memória. Mas eu só descobri isso quando eu acompanhei o processo de criação dela no ateliê. Você pode supor, e acho que tem essa sugestão no trabalho, mas a memória não está marcada. Só que essa memória é como se fosse a espuma da onda, ela não é o movimento inteiro da corrente oceânica. Acho que a madeira é um pouco dessa representação, do que seria a corrente e o que está ali dentro, que você não enxerga, é a onda. E isso está presente até quando a gente tira a cortina, porque o museu tem um modo de operação e de pensar muito relativo à preservação, à conservação das obras e a gente lidou com a cortina aberta, com a paisagem de fora, justamente porque a Sonia pode intervir no trabalho para mudar o tempo do trabalho.
PP: E como surgiu a ideia de abrir as cortinas da galeria?
SG: Quando me apresentaram o espaço, quando abri as cortinas, vi que tinha um jardim. E acho que o trabalho conversa muito com a natureza, então eu quis trazer o jardim para dentro do espaço e levar o espaço para fora. Tanto é que coloco uma obra fora [Lugar para um corpo, 2014], senti a necessidade de abrir tudo. Foi difícil conseguirmos abrir, porque é uma instituição que tem a preocupação com a conservação do trabalho, mas eu me responsabilizei e o artista tem essa coisa de querer a transcendência, né? E deu certo! Estes dias estava na Paulista e passou um rapaz de bicicleta e disse ‘Oi Sonia! Maravilhosa sua exposição lá no MASP! Obrigada por abrir as cortinas!’ Então estou tendo esta resposta também, porque isso aqui aberto é vida.
PP: A Cecilia Farjado-Hill fala no texto do catálogo da exposição uma coisa que eu achei bem bonita, do seu trabalho como integração, como cura pessoal. Quando você está criando como isso aparece para você?
SG: Eu não tenho religião, sou uma pessoa totalmente cética, mas acho que a minha religião é o meu trabalho, então às vezes quando estou fazendo um trabalho, eu entro em um processo que parece até um transe, o negócio vai. E penso que se não tivesse partido para isso, acho que teria enlouquecido. É muita catarse. No princípio era mais, mas eu faço arte por necessidade. Não é que eu escolhi ser artista. Ela veio, a arte veio pra mim. Em momento nenhum pensei ‘eu quero ser uma artista, ir para a Bienal de Veneza’, nunca pensei nisso, as coisas foram acontecendo. Então fazer é um processo de cura também, é a minha necessidade, eu faço por necessidade.
AC: Por isso que é difícil a Sonia tirar férias! Eu estava brincando com ela ‘Sonia, que bom, agora você vai descansar’. E ela disse ‘Vou tentar.’ Digo isso também porque os trabalhos são muito ela mesmo. O assistente dela entra nesse embate porque ele faz, ela desfaz e faz de novo.
SG: É, eu tenho que estar ali, é muito pessoal. Eu tenho essa questão ética, de não querer me apropriar do trabalho do outro.
PP: Então essa intensidade da presença no trabalho não acontece somente durante a criação, mas também durante a montagem da exposição…
AC: Totalmente. Na casa de vidro foi curioso até. Na montagem, a Sonia não pôde ir por diversas circunstâncias e falou ‘Vai lá você e o Gilson’, que é o assistente dela. E nós fomos, e foi ótimo, mas depois ela apareceu. E aí Sonia subiu para ver como tinha ficado a nossa montagem e daí lá vai ‘a mãozinha mágica da Sonia’ [risos]. Não quero criar um mito, mas acho que é um conhecimento muito grande do seu próprio trabalho. Então às vezes uma coisa a qual um observador desatento não prestaria atenção, quando você olha, realmente é só uma posição, um deslocamento, mas que faz muita diferença. Então acho que foi muito feliz a possibilidade de fazer isso com a Sonia presente, porque esse olhar muda completamente.
Você mencionou a Bienal de Veneza e me lembrou que a sua primeira exposição, na Casa de Cultura Sete Lagoas, foi em 1994. Nestes 25 anos, você participou de pelo menos 10 coletivas e 6 exposições individuais, até o convite para participar da Bienal de Veneza. Na sua opinião, quais foram os fatores que contribuíram, ao longo dos anos, para o seu desenvolvimento e reconhecimento como artista?
SG: Isso, teve uma individual em Sete Lagoas, eu estudava lá… É, passou muito tempo. Eu gostava muito de pintura, amo pintura, mas não tenho domínio do pincel, eu não desenho. Então eu pensava ‘artista eu nunca vou ser, porque não sei desenhar, não sei pintar’. Era uma barreira. Então comecei a fazer, com essa necessidade de criar, de transformar, isso vem desde sempre. Lembro de quando era pequena, nunca fiz um vestido de boneca. Eu enrolava o pano na boneca, nos cabelos, mas nunca fiz vestidinho. Foi desde sempre, não teve um marco do tipo ‘agora vou ser artista’. Eu me formei em direito e trabalhei como advogada, mas sempre mantive meu ateliê em paralelo, para fazer meus colares, minhas coisas e tentava comercializar aquilo mas as pessoas não tinham coragem de usar. Eu dava para o meus amigos que gostavam e uma ou outra pessoa comprava, mas ninguém gostava, ninguém queria. Aí a autoestima da gente vai lá para baixo, né? Ainda mais negra, ainda tem essa coisa, ainda mais no Brasil.
PP: E foi em uma viagem que você fez aos estados Unidos que você teve uma resposta positiva sobre seu trabalho…
SG: Tenho um primo que mora nos arredores de São Francisco e ele me deu essa passagem para ir. E foi bem na época em que eu não queria mais trabalhar com direito e queria viver das coisas que eu faço. Nem era de arte, era ‘do que eu faço’. Não estou preocupada com o título, se é arte ou artesanato, não estou preocupada com isso. São as coisas que eu gosto de fazer, essa é a minha preocupação. Mas eu fazia e ninguém gostava e eu não queria ir porque Estados Unidos tem aquela coisa, é um país em que eles se dizem racistas, daí pensei: ‘vou sair daqui e vou para um país racista?’ Eu tive muito medo. Mas quando eu cheguei lá, fiquei surpresa. Depois que voltei com a autoestima lá em cima foi quando as coisas começaram a acontecer. Impressionante!
PP: Mudou algo em você…
SG: Mudou. É autoestima. A gente é aceito, as pessoas gostam das coisas que a gente faz. Lá, as pessoas pegavam, tocavam as minhas peças e diziam que só um anjo poderia fazer algo assim [risos] e eu ainda falei para o meu primo: ‘Se nada der certo por lá, estou voltando’. Se eu já era corajosa, voltei com mais coragem ainda. É isso que eu sei fazer, é isso que eu quero fazer, sabe? Então foi isso que aconteceu para estar onde eu estou, e eu nunca imaginei. Eu acho que eu estou em um lugar privilegiado.
AC: Mas também porque seu trabalho é incrível, é extraordinário, eu acho que isso é super importante. Por que no Brasil não olhou para isso durante tanto tempo?
SG: Mas sabe o que eu acho? Que é coragem, é porque eu não me rendi, continuei no que gosto. Foi uma resistência minha, gostem ou não, é isso que eu vou fazer. O meu trabalho é muito intuitivo e no Brasil, é muito aceito o trabalho intelectual, porque o trabalho intuitivo já é classificado como o artesanato, arte popular, uma coisa menor. Então teve algo que ouvi do Adriano Pedrosa e que foi muito importante para mim, é que arte é arte. Todas essas classificações só levam o trabalho para um lugar menor, como se fosse importante só o trabalho intelectual e na verdade, todos têm importância.
AC: Mas seu trabalho é intelectual também, Sonia! Ela não concorda com isso e tudo bem. Mas eu acho que tem uma coisa também de atribuir intelectualidade somente ao que é acadêmico. Então o trabalho da Sonia tem uma prática gigante, e começou desde que ela começou a colocar pano em boneca.
SG: É intelectual porque tem um pensamento, tem um todo. Eu estou falando dessa…
PP: De uma legitimação que não vem para esse tipo de trabalho. Em um dos textos do catálogo alguém menciona isso, de que as mulheres, sempre atreladas ao trabalho têxtil, foram classificadas dentro de artesanato, de uma arte menor justamente como um meio de exclusão.
SG: É, tem disso mesmo. Teve uma menina, depois da abertura da exposição, que me disse: ‘Vou trazer minha mãe aqui, porque ela é costureira e acha que o trabalho dela não tem valor nenhum’, para você ver, como a autoestima do trabalho artesanal aqui não tem valor. Então eu acho maravilhoso que a autoestima dessas pessoas, que fazem um trabalho artesanal, mude. As pessoas chegam e vêem a costura, o bordado. E muita gente acha que eu bordo. Eu não bordo, eu me aproprio do bordado. Mas pessoas vêem esses bordados no trabalho e neste lugar [no MASP] e isso dá valor ao bordado, o que para mim é importantíssimo.
Olha, vou te falar uma coisa, na verdade, acho que é a primeira vez que eu vou falar isso, eu sou de uma região de muito artesanato, que é Minas Gerais. Eu sou de uma época em que tinha muita delicadeza. Por exemplo, se alguém fosse servir um café na minha casa, tinha um paninho de crochet, tinha uma xicarazinha, tinha esses forrinhos de crochet na mesa. Hoje eu fico observando o quanto isso é maravilhoso e já estava caindo em desuso. Eu tive essa preocupação de me apropriar disso, de trazer para o meu trabalho e não deixar isso morrer. Agora conversando aqui, me dei conta de que tive essa preocupação, de trazer esses forrinhos, esses bordados, a delicadeza. Eu acho que a gente está precisando muito disso, que está se perdendo.
PP: Você já falou algumas vezes que, embora seu trabalho seja ‘feminino, preto e marginalizado’, você não se considera uma ativista e que o ativismo do seu trabalho é silencioso. Ainda assim, o título da exposição, que deriva do poema da Maya Angelou, faz por si só essa relação de resistência e ativismo. E em tempos como o que estamos vivendo, esta conotação ganha ainda mais força. Como você enxerga isso?
SG: O meu ativismo e o ativismo presente em cada obra é silencioso. Eu não tenho aquela coisa de ir pra rua. Cada um tem um jeito, mas eu acho que precisa de ativismo, é necessário. Mas o meu ativismo é silencioso, é mais observar as coisas acontecerem e não contribuindo para que aquilo continue a acontecer. É o respeito pelas pessoas que ninguém vê. Eu tenho essa preocupação, eu sou mais assim. E tem muito a ver com o nosso momento. Neste momento em que estamos, a gente precisa de muita resistência e de muita força. Principalmente a arte. Não podemos deixar acontecer o que estão fazendo com a arte. E a arte também não vai permitir. Ela é mais forte que isso tudo, ela não vai morrer.